REFERÊNCIA
- “Metaethicsy,” by Kevin M. DeLapp, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, https://iep.utm.edu/metaethi/, 2022-08-09.
Metaética
A metaética é um ramo da filosofia analítica que explora o status, os fundamentos e o escopo dos valores morais, propriedades e palavras. Enquanto os campos da ética aplicada e da teoria normativa se concentram no que é moral , a metaética se concentra no que é a própria moralidade . Assim como duas pessoas podem discordar sobre a ética, por exemplo, do suicídio assistido por médico, embora concordem no nível mais abstrato de uma teoria normativa geral como o utilitarismo, assim também as pessoas que discordam no nível de uma teoria normativa geral, no entanto, concordam sobre a existência fundamental e o status da própria moralidade, ou vice-versa. Dessa forma, a metaética pode ser pensada como uma maneira altamente abstrata de pensar filosoficamente sobre a moralidade. Por esta razão, a metaética também é ocasionalmente referida como teorização moral de “segunda ordem”, para distingui-la do nível de “primeira ordem” da teoria normativa.
As posições metaéticas podem ser divididas de acordo com a forma como respondem a perguntas como as seguintes:
- Ÿ O que exatamente as pessoas estão fazendo quando usam palavras morais como “bom” e “certo”?
- Ÿ O que exatamente é um valor moral em primeiro lugar, e esses valores são semelhantes a outros tipos familiares de entidades, como objetos e propriedades?
- Ÿ De onde vêm os valores morais – qual é sua fonte e fundamento?
- Ÿ Algumas coisas são moralmente certas ou erradas para todas as pessoas em todos os momentos, ou a moralidade varia de pessoa para pessoa, de contexto para contexto ou de cultura para cultura?
As posições metaéticas respondem a tais questões examinando a semântica do discurso moral, a ontologia das propriedades morais, o significado do desacordo antropológico sobre valores e práticas morais, a psicologia de como a moralidade nos afeta como agentes humanos incorporados e a epistemologia de como chegamos conhecer os valores morais. As seções abaixo consideram esses diferentes aspectos da metaética.
Índice
- História da Metaética
- A Relevância Normativa da Metaética
- Questões Semânticas em Metaética
- Questões Ontológicas na Metaética
- Psicologia e Metaética
- Questões Epistemológicas na Metaética
- Considerações Antropológicas
- Implicações políticas da metaética
- Referências e Leituras Adicionais
1. História da Metaética
uma. Metaética antes de Moore
Embora a palavra “metaética” (mais comumente “metaética” entre os filósofos britânicos e australianos) tenha sido cunhada no início do século XX, a preocupação filosófica básica sobre o status e os fundamentos da linguagem moral, propriedades e julgamentos remonta a desde os primórdios da filosofia. Vários personagens nos diálogos de Platão , por exemplo, representam posições metaéticas familiares aos filósofos de hoje: Cálicles no Górgias de Platão (482c-486d) avança a tese de que a Natureza não reconhece distinções morais, e que tais distinções são apenas construções da convenção humana; e Trasímaco na República de Platão(336b-354c) defende um tipo de niilismo metaético ao defender a visão de que a justiça não é nada acima e além do que os fortes dizem que ela é. A defesa de Sócrates da separação dos mandamentos divinos dos valores morais no Eutífron de Platão (10c-12e) também é um precursor dos debates metaéticos modernos sobre o fundamento secular dos valores morais. A fundamentação da virtude e da felicidade de Aristóteles na natureza biológica e política dos humanos (no Livro Um de sua Ética a Nicômaco ) também foi examinada da perspectiva da metaética contemporânea (compare, MacIntyre 1984; Heinaman 1995). Na tradição clássica chinesa, os primeiros pensadores taoístas como Zhuangzitambém foram interpretados como pesando sobre questões metaéticas, criticando a aparente inadequação e convencionalidade das tentativas humanas de reificar conceitos e termos morais (compare, Kjellberg & Ivanhoe 1996). Muitos relatos medievais de moralidade que fundamentam valores em textos religiosos, comandos ou emulação também podem ser entendidos como defesa de certas posições metaéticas (ver Teoria do Comando Divino ). Em contraste, durante o Iluminismo europeu, Immanuel Kant buscou uma base para uma ética menos propensa a diferenças sectárias religiosas, olhando para o que ele acreditava serem capacidades e exigências universais da razão humana. Em particular, as discussões de Kant em sua Fundamentação sobre a Metafísica da Moralde uma “lei moral” universal exigida pela razão têm sido terreno fértil para a articulação de muitas defesas neokantianas contemporâneas da objetividade moral (por exemplo, Gewirth 1977; Boylan 2004).
Como a metaética é o estudo dos fundamentos, se houver, da moralidade, ela floresceu especialmente durante períodos históricos de diversidade e fluxo cultural. Por exemplo, respondendo ao contato intercultural engendrado pelas guerras greco-persas, o antigo historiador grego Heródoto refletiu sobre o aparente desafio à superioridade cultural representado pelo fato de diferentes culturas terem práticas morais aparentemente divergentes. Um interesse comparável pela metaética dominou o discurso moral dos séculos XVII e XVIII na Europa Ocidental, enquanto os teóricos lutavam para responder à desestabilização dos símbolos tradicionais de autoridade – por exemplo, revoluções científicas, fragmentação religiosa, guerras civis – e as imagens sombrias do egoísmo humano.que pensadores como John Mandeville e Thomas Hobbes estavam apresentando (compare, Stephen 1947). Mais notoriamente, o filósofo escocês do século XVIII David Hume pode ser entendido como um precursor da metaética contemporânea quando questionou até que ponto os julgamentos morais podem, em última análise, basear-se nas paixões humanas e não na razão, e se certas virtudes são, em última análise, naturais ou artificiais (compare , Darwall 1995).
b. Metaética no século XX
A metaética analítica em sua forma moderna, no entanto, é geralmente reconhecida como começando com os escritos morais de GE Moore . (Embora, veja Hurka 2003 para um argumento de que as inovações de Moore devem ser contextualizadas por referência ao pensamento anterior de Henry Sidgwick.) Em seu inovador Principia Ethica(1903), Moore pediu uma distinção entre meramente teorizar sobre bens morais, por um lado, versus teorizar sobre o próprio conceito de “bom” em si. (As visões metaéticas específicas de Moore são consideradas com mais detalhes nas seções abaixo). propriedades podem ser analisadas cientificamente ou “naturalisticamente”. (Veja abaixo uma descrição mais específica dessas diferentes tendências metaéticas.) Então, na década de 1970, em grande parte inspirada pelo trabalho de filósofos como John Rawls e Peter Singer, a filosofia moral analítica começou a focar em questões de ética aplicada eteorias normativas . Hoje, a metaética continua sendo um ramo próspero da filosofia moral e os metaeticistas contemporâneos frequentemente adotam uma abordagem interdisciplinar para o estudo dos valores morais, valendo-se de disciplinas tão diversas como psicologia social, antropologia cultural, política comparada, bem como outros campos dentro da própria filosofia, como como metafísica , epistemologia , teoria da ação e filosofia da ciência .
2. A Relevância Normativa da Metaética
Uma vez que a ética filosófica é muitas vezes concebida como umaramo da filosofia – com o objetivo de fornecer orientações e justificativas morais concretas – a metaética fica desajeitadamente como um empreendimento amplamente abstrato que diz pouco ou nada sobre questões morais da vida real. De fato, a natureza premente de tais questões fazia parte da migração geral de volta à ética aplicada e normativa no clima intelectual politicamente galvanizado da década de 1970 (descrito acima). E, no entanto, a experiência moral parece fornecer inúmeros exemplos de desacordo em relação não apenas a questões aplicadas específicas, ou mesmo às interpretações ou aplicações de teorias particulares, mas às vezes sobre o próprio lugar da moralidade em geral dentro de relatos multiculturais, seculares e científicos do mundo. . Assim, uma das questões inerentes à metaética diz respeito ao seu status vis-à-vis outros níveis de filosofar moral.
Como fato histórico, as posições metaéticas foram combinadas com uma variedade de posições morais de primeira ordem, e vice-versa: George Berkeley , John Stuart Mill , GE Moore e RM Hare, por exemplo, estavam todos comprometidos com alguma forma de utilitarismo como uma estrutura moral de primeira ordem, apesar de defender posições metaéticas radicalmente diferentes. Da mesma forma, em seu influente livro Ethics: Inventing Right and Wrong, JL Mackie (1977) defende uma forma de ceticismo ou relativismo metaético (de segunda ordem) no primeiro capítulo, apenas para dedicar o resto do livro à articulação de uma teoria substantiva do utilitarismo (de primeira ordem). Posições metaéticas parecem então subdeterminar teorias normativas, talvez da mesma forma que as próprias teorias normativas subdeterminam posturas éticas aplicadas (por exemplo, dois utilitaristas igualmente comprometidos podem, no entanto, discordar sobre a permissibilidade moral de comer carne). No entanto, apesar das combinações logicamente possíveis de posições morais de segunda e primeira ordem, Stephen Darwall (2006: 25) observa que, no entanto, “parece haver afinidades entre teorias éticas metaéticas e aproximadamente correspondentes”, por exemplo, os naturalistas metaéticos tendem quase universalmente a ser utilitaristas no nível de primeira ordem, embora não vice-versa. Exceções notáveis a essa tendência – isto é, naturalistas metaéticos que também são de primeira ordemdeontologistas — incluem Alan Gewirth (1977) e Michael Boylan (1999; 2004). Para respostas críticas a essas posições, ver Beyleveld (1992), Steigleder (1999), Spence (2006) e Gordon (2009).
Outros filósofos vislumbram a conexão entre metaética e teorização moral mais concreta de maneiras muito mais íntimas. Por exemplo, Matthew Kramer (2009: 2) argumentou que o realismo metaético (ver seção quatro abaixo) é na verdade também uma visão moral de primeira ordem, observando que “a maioria das razões para insistir na objetividade da ética são razões éticas. .” (Para uma visão semelhante sobre a “necessidade” de primeira ordem de acreditar na tese de segunda ordem de que os valores morais são “objetivos”, ver também Ronald Dworkin 1996.) Torbjörn Tännsjö (1990), em contraste, argumenta que, embora a metaética é irrelevante para a teorização normativa, ainda pode ser significativo de outra maneira psicológica ou pragmática, por exemplo, restringindo outras crenças. Nicholas Sturgeon (1986) afirmou que a crença de primeira ordem na falibilidade moral deve ser fundamentada em alguma visão metaética de segunda ordem. E David Wiggins (1976) sugeriu que as questões metaéticas sobre o fundamento último e a justificação das crenças morais básicas podem ter profundas implicações existenciais sobre como os humanos veem a questão dosentido da vida .
A questão metaética de se os valores morais são ou não transculturalmente universais parece ter implicações importantes sobre como as práticas estrangeiras são moralmente avaliadas no nível de primeira ordem. Em particular, o relativismo metaético (a visão de que não há valores morais universais ou objetivos) tem sido visto como altamente carregado política e psicologicamente. Os proponentes de tal relativismo muitas vezes apelam para a alegada abertura de mente e tolerância sobre diferenças morais de primeira ordem que sua visão metaética de segunda ordem parece apoiar. Por outro lado, os oponentes do relativismo muitas vezes apelam para o que Thomas Scanlon (1995) chamou de “medo do relativismo”, citando uma ansiedade sobre os efeitos de primeira ordem em nossas convicções e motivações morais se nos tornarmos moralmente tolerantes demais.
3. Questões Semânticas na Metaética
uma. Cognitivismo versus não-cognitivismo
Um dos debates centrais dentro da metaética analítica diz respeito à semântica do que realmente está acontecendo quando as pessoas fazem declarações morais como “o aborto é moralmente errado” ou “ir à guerra nunca é moralmente justificado”. A questão metaética não é necessariamente se tais afirmações são verdadeiras ou falsas, mas se elas são mesmo o tipo de sentenças que são capazes dede serem verdadeiras ou falsas em primeiro lugar (isto é, se tais sentenças são “verdadeiras”) e, se forem, o que as torna “verdadeiras”. Na superfície, tais sentenças parecem possuir conteúdo descritivo – isto é, elas parecem ter a estrutura sintática de descrever fatos no mundo – da mesma forma que a sentença “O gato está no tapete” parece estar fazendo uma afirmação descritiva sobre um gato em uma esteira; que, por sua vez, é verdadeiro ou falso dependendo de haver ou não um gato no tapete. Em outras palavras, a frase “O gato está no tapete” parece expressar uma crençasobre como o mundo realmente é. A visão metaética de que as declarações morais expressam similarmente crenças aptas à verdade sobre o mundo é conhecida como cognitivismo. O cognitivismo parece ser a visão padrão de nosso discurso moral, dada a estrutura aparente que tal discurso parece ter. De fato, se o cognitivismo não fosse verdadeiro – de modo que sentenças morais expressassem algo diferente de proposições aptas à verdade – então pareceria difícil explicar por que somos capazes de fazer inferências lógicas de uma sentença moral para outra. Por exemplo, considere o seguinte argumento:
1. É errado mentir.
2. Se é errado mentir, então é errado fazer um irmão mentir.
3. Portanto, é errado fazer um irmão mentir.
Este argumento parece ser uma aplicação válida da regra lógica conhecida como modus ponens . No entanto, regras lógicas como modus ponens operam apenas em proposições aptas à verdade. Assim, porque parecemos ser capazes de aplicar legitimamente tal regra no exemplo acima, tais sentenças morais devem ser adequadas à verdade. Esse argumento em favor do cognitivismo metaético pelo apelo à aparente estrutura lógica do discurso moral é conhecido como o Problema de Frege-Geach.em homenagem aos filósofos creditados com sua articulação (compare, Geach 1960; Geach 1965 credita Frege como um ancestral deste problema; veja também Schueler 1988 para uma análise influente deste problema vis-à-vis o realismo moral). De acordo com os proponentes do Problema de Frege-Geach, rejeitar o cognitivismo nos forçaria a mostrar as ocorrências separadas da sentença “é errado mentir” no argumento acima como homônima: de acordo com tais não-cognitivistas , a ocorrência na sentença (1 ) é uma expressão de um sentimento não apto à verdade sobre a mentira, enquanto a ocorrência na sentença (2) não é, uma vez que está apenas afirmando o que seriaexpressar condicionalmente. Como essa homonímia parece ameaçar minar a estrutura gramatical do discurso moral, o não-cognitivismo deve ser rejeitado.
Apesar desse argumento sobre a aparência superficial do cognitivismo, no entanto, numerosos metaeticistas rejeitaram a visão de que as sentenças morais, em última análise, expressam crenças sobre o mundo. Um precursor historicamente influente da teoria alternativa do não-cognitivismo pode ser encontrado nos escritos morais de David Hume, que notoriamente argumentou que as distinções morais não são derivadas da razão, mas representam respostas emocionais. Como tal, as sentenças morais expressam não crenças que podem ser verdadeiras ou falsas, mas desejos ou sentimentos que não são nem verdadeiros nem falsos. Essa posição de Hume foi renovada na metaética do século XX pela observação de que não apenas as disputas morais são muitas vezes fortemente carregadas de afeto de uma maneira que muitas outras disputas factuais não são, mas também que o tipo de fatos que aparentemente seriam necessários para acomodar a verdadeira moral crenças teriam que ser tipos muito estranhos de entidades. Especificamente, a preocupação é que, embora possamos apelar para padrões de verificação empírica ou falsificação para julgar quando nossas crenças não morais são verdadeiras ou falsas, nenhum desses padrões parece aplicável na esfera moral.
Em resposta a essa aparente desanalogia entre declarações morais e não-morais, muitos metaeticistas abraçaram uma espécie de não-cognitivismo neo-humiano, segundo o qual declarações morais expressam desejos ou sentimentos não-verdade. O Positivismo Lógico do Círculo de Viena adotou essa posição metaética, achando que qualquer coisa que não seja empiricamente verificável seja semanticamente “sem sentido”. Assim, AJ Ayer (1936) defendeu o que chamou de emotivismo metaético, segundo a qual as expressões morais são indexadas sempre ao próprio estado afetivo do falante. Assim, a expressão moral “o aborto é moralmente errado” significaria, em última análise, apenas “eu não aprovo o aborto” ou, mais precisamente (para evitar até mesmo a aparência de ter conteúdo descritivo), “aborto – boo!” CL Stevenson (1944) desenvolveu ainda mais o não-cognitivismo metaético como envolvendo não apenas uma expressão da atitude pessoal do falante, mas também um endosso implícito do que o falante pensa que o público deveria sentir. RM Hare (1982) similarmente analisou enunciados morais como contendo tanto elementos descritivos (aptos à verdade) quanto ineliminavelmente prescritivos, de modo que afirmar genuinamente, por exemplo, que o assassinato é errado envolve um endosso emocional concomitante de não matar. Com base no trabalho de filósofos da linguagem comum, como JL Austin, Hare distinguiu o ato de fazer uma declaração (ou seja, a “força ilocucionária” da declaração) de outros atos que podem ser realizados concomitantemente (ou seja, a “força perlocucionária” da declaração). ”) – como quando, por exemplo, declarar “sim” no contexto de uma cerimônia de casamento, dessa forma, afeta uma realidade jurídica real. Da mesma forma, Hare argumentou que, no caso da linguagem moral, o ato ilocucionário de descrever uma guerra como “injusta” pode, como parte integrante da própria descrição, também envolver a força perlocutória de recomendar uma atitude ou ação negativa em relação àquela. guerra. Para Hare, a dimensão prescritiva de tal afirmação deve ser restringida pelos requisitos de universalização – portanto,
Mais recentemente, floresceram versões sofisticadas de não-cognitivismo que constroem na expressão moral não apenas o endosso normativo do falante individual, mas também um apelo a uma norma socialmente compartilhada que ajuda a contextualizar o endosso. Assim, Alan Gibbard (1990) defende o expressivismo normativo , segundo o qual as declarações morais expressam compromissos não com sentimentos pessoais idiossincráticos, mas sim com os costumes culturais particulares (e, para Gibbard, evolutivamente adaptativos) que permitem a comunicação e a coordenação social.
Os não-cognitivistas também tentaram abordar o problema de Frege-Geach discutido acima, especificando como a expressão de atitudes funciona no discurso moral. Simon Blackburn (1984), por exemplo, afirmou que o não-cognitivismo é uma afirmação apenas sobre as partes morais , não as lógicas do discurso. Assim, de acordo com Blackburn, dizer que “se é errado mentir, então é errado fazer um irmão mentir” pode ser entendido como expressando não uma atitude em relação à mentira em si (que é expressa em termos meramente hipotéticos), mas antes uma atitude em relação à disposiçãoexpressar uma atitude em relação à mentira (isto é, um tipo de sentimento de segunda ordem). Como isso ainda envolve essencialmente a expressão de atitudes em vez de afirmações aptas à verdade, ainda é propriamente um tipo de não-cognitivismo; ainda, distinguindo expressar uma atitude diretamente de expressar uma atitude sobreoutra atitude (hipotética), Blackburn pensa que a estrutura lógica e gramatical do nosso discurso é preservada. Como essa visão combina a tese expressiva do não-cognitivismo com a aparência lógica do realismo moral, Blackburn a chama de “quase-realismo”. Para uma resposta crítica à tentativa de solução de Blackburn para o problema de Frege-Geach, ver Wright (1988). Para um levantamento acessível da história do debate em torno do problema de Frege-Geach, ver Schroeder (2008), e para tentativas de articular novas teorias híbridas que combinam elementos tanto do cognitivismo quanto do não-cognitivismo, ver Ridge (2006) e Boisvert (2008).
Uma complicação no debate em curso entre os relatos cognitivistas e não-cognitivistas da linguagem moral é a crescente percepção da dificuldade em distinguir conceitualmente as crenças dos desejos em primeiro lugar. O reconhecimento da natureza mesclada dos estados cognitivos e não cognitivos pode ser encontrado na obra de Aristóteles.visão de que a forma como percebemos e conceituamos uma situação afeta fundamentalmente a forma como respondemos emocionalmente a ela; para não mencionar o compromisso de Sigmund Freud com a ideia de que nossas próprias emoções derivam, em última análise, de crenças (talvez inconscientes) (compare, Neu 2000). Muito do debate metaético contemporâneo entre cognitivistas e não-cognitivistas, portanto, diz respeito à medida em que crenças por si só, desejos por si só, ou algum composto dos dois – o que JEJ Altham (1986) apelidou de “besires” – são capazes de capturar a dimensão prescritiva e afetiva. que o discurso moral parece evidenciar (ver Teorias das Emoções ).
b. Teorias da verdade moral
Uma questão relacionada à semântica da metaética diz respeito ao que significaria dizer que uma afirmação moral é “verdadeira” se alguma forma de cognitivismo estivesse correta. O relato filosófico tradicional da verdade (chamado de teoria da correspondência da verdade) considera uma proposição como verdadeira apenas no caso de descrever com precisão a maneira como o mundo realmente é independente da proposição. Assim, a frase “O gato está no tapete” seria verdadeira se e somente se realmente existe um gato que está realmente no tapete. De acordo com esse entendimento, as expressões morais também teriam que corresponder a características externas sobre o mundo para serem verdadeiras: a sentença “Assassinato é errado” seria verdadeira em virtude de sua correspondência com algum “fato” no mundo sobre o assassinato ser errado. E, de fato, várias posições metaéticas (muitas vezes agrupadas sob o título de “realismo” ou “objetivismo” – veja a seção quatro abaixo) abraçam precisamente essa visão; embora exatamente quais são as características do mundo às quais as proposições morais supostamente verdadeiras correspondem continua sendo uma questão de sério debate. No entanto, há vários desafios óbvios a essa explicação tradicional da verdade moral por correspondência. Por um lado, propriedades morais como “errado” não parecem ser o tipo de entidades que podem ser literalmente apontadas ou escolhidas por proposições da mesma forma que gatos e tapetes podem ser, uma vez que as propriedades morais não são espaciais. objetos temporais. ComoDavid Hume colocou isso notoriamente,
Tome qualquer ação que seja viciosa: assassinato intencional, por exemplo. Examine-o sob todas as luzes e veja se você pode encontrar essa questão de fato, ou existência real, que você chama de vício . Seja qual for a maneira como você a encara, você encontra apenas certas paixões, motivos, volições e pensamentos. Não há outra questão de fato no caso. (Hume 1740: 468)
Outros possíveis modelos ontológicos para o que os “fatos” morais podem parecer são considerados na seção quatro abaixo. Nos últimos anos, no entanto, proliferaram vários entendimentos filosóficos alternativos da verdade que podem permitir que as expressões morais sejam “verdadeiras” sem exigir qualquer correspondência com os fatos externos em si . Muitas dessas novas teorias da verdade moral atendem a uma sugestão de Ludwig Wittgenstein no início do século XX de que o significado de qualquer termo é determinado por como esse termo é realmente usado .no discurso. Com base nesse insight sobre o significado, Frank Ramsey (1927) estendeu o relato à própria verdade. Assim, segundo Ramsey, o predicado “é verdade” não representa uma propriedade per se, mas funciona como uma espécie de abreviação para a afirmação indireta de outras proposições. Por exemplo, Ramsey sugeriu que proferir a proposição “O gato está no tapete” é dizer a mesma coisa que “A frase ‘o gato está no tapete’ é verdadeira”. A frase “é verdade” neste último enunciado nada acrescenta semanticamente ao que é expresso no primeiro, pois ao proferir o primeiro, o falante já está afirmando que o gato está no tapete. Esta é uma instância do chamado esquema desquotacional , ou seja, a visão de que a verdade já está implícita em uma frase sem a adição da frase “é verdade”. Ramsey exerceu esse princípio para defender uma teoria deflacionária da verdade, em que os predicados de verdade são despojados de qualquer propriedade metafisicamente substancial e reduzidos apenas à capacidade de serem formalmente representados em uma linguagem. Dizer que a verdade é assim despojada de metafísica não é dizer que ela é determinada pelo uso de forma arbitrária .ou maneira sem princípios. Isso porque, enquanto a teoria deflacionária define “verdade” meramente como a capacidade de ser representada em uma linguagem, sempre há regras sintáticas que uma linguagem deve seguir. A gramática de uma língua, portanto, restringe o que pode ser adequadamente expresso nessa língua e, portanto (na teoria deflacionária) o que pode ser verdade. A verdade deflacionária é assim limitada pelo que pode ser chamado de “assertividade garantida”, e como a verdade deflacionária é apenas o que pode ser expresso pela gramática de uma linguagem, podemos dizer mais fortemente que a verdade é assertibilidade garantida.
Hilary Putnam (1981) articulou um desafio influente à conta deflacionária. Ele argumenta que a verdade deflacionária é incapaz de acomodar o fato de que normalmente pensamos na verdade como eterna e estável. Mas se a verdade é apenas assertibilidade garantida (ou o que Putnam chama de “aceitabilidade racional”), então ela se torna mutável, uma vez que a assertibilidade garantida varia dependendo de qual informação está disponível. Por exemplo, a proposição “a Terra é plana” poderia ter sido afirmada com garantia (ou seja, aceita racionalmente) mil anos atrás de uma forma que não poderia ser hoje, porque agora temos mais informações disponíveis sobre a Terra. Mas, embora a assertividade garantida tenha mudado neste caso, não gostaríamos de dizer que a verdadeda proposição “a Terra é plana” mudou. Com base nesses problemas, filósofos como Putnam refinam a teoria deflacionária substituindo uma condição de garantia ou justificação ideal , ou seja, onde a assertibilidade garantida não é relativa a qual informação específica um falante pode ter em um momento específico, mas a qual informação seria acessível a um agente epistêmico ideal. Que tipo de informação esse orador ideal teria? Putnam caracteriza a situação epistêmica ideal como envolvendo informações completas (isto é, envolvendo tudo o que é relevante) e consistentes (isto é, não logicamente contraditórias). Essas duas condições se combinam para afetar a convergência de informações para o agente ideal – uma visão que Putnam chama de “realismo interno”.
Essa tradição de esvaziar a verdade – do que Jamie Dreier descreveu como “sugar a substância de conceitos metafísicos pesados” (Dreier 2004: 26) – recebeu exposição cuidadosa nos últimos anos por Crispin Wright. Wright (1992) defende uma teoria da verdade que ele chama de “minimalismo”. Embora devendo de maneira fundamental à tradição – de Wittgenstein a Ramsey a Putnam – discutida acima, a posição de Wright difere significativamente desses relatos. Wright concorda com a crítica de Putnam às teorias deflacionárias tradicionais da verdade, a saber, que tornam a verdade muito variável, identificando-a com algo tão mutável quanto a assertibilidade garantida. No entanto, Wright discorda de Putnam de que a verdade é limitada pela convergência de informações que estariam disponíveis para um agente epistemicamente ideal. Isso ocorre porque Wright pensa que é aparente para os falantes de uma língua que algo pode ser verdade mesmo que não seja justificado em condições epistêmicas ideais. Wright chama essa aparência de “platitude”. Os lugares-comuns, diz Wright, são o que os usuários da linguagem comum querem dizer pré-teoricamente, e Wright identifica vários lugares-comuns específicos que temos em relação à verdade, por exemplo, que uma afirmação pode ser verdadeira sem ser justificada, que proposições aptas à verdade têm negações que também são assim. verdade-apto, e assim por diante. Tais chavões servem ao mesmo propósito de verificar e equilibrar a verdade que garantia a assertividade ou a convergência ideal servida nas teorias de Ramsey e Putnam (Wright chama essa verificação e equilíbrio de “superassertabilidade”). Como Wright coloca: “Se uma interpretação de “verdadeiro” satisfaz esses chavões, há, para o minimalismo, não há outra questão metafísica se ele captura um conceito que vale a pena considerar como verdade” (1992: 34). A teoria da verdade minimalista de Wright tem sido extraordinariamente influente na metaética, particularmente por não-cognitivistas ansiosos para acomodar parte da estrutura lógica que o discurso moral aparentemente evidencia, mas sem ver os enunciados morais como expressando crenças que devem literalmente corresponder a fatos. Tal teoria não-cognitivista da verdade moral minimalista é defendida por Simon Blackburn (1993), que caracteriza a visão resultante como “quase-realismo” (como discutido na seção 3a acima). Para uma discussão crítica sobre até que ponto visões não-cognitivistas como o quase-realismo de Blackburn podem alavancar a teoria do minimalismo de Wright, veja o debate entre Michael Smith (1994) e John Divers e Alexander Miller (1994). questão metafísica se ela captura um conceito que vale a pena considerar como verdade” (1992: 34). A teoria da verdade minimalista de Wright tem sido extraordinariamente influente na metaética, particularmente por não-cognitivistas ansiosos para acomodar parte da estrutura lógica que o discurso moral aparentemente evidencia, mas sem ver os enunciados morais como expressando crenças que devem literalmente corresponder a fatos. Tal teoria não-cognitivista da verdade moral minimalista é defendida por Simon Blackburn (1993), que caracteriza a visão resultante como “quase-realismo” (como discutido na seção 3a acima). Para uma discussão crítica sobre até que ponto visões não-cognitivistas como o quase-realismo de Blackburn podem alavancar a teoria do minimalismo de Wright, veja o debate entre Michael Smith (1994) e John Divers e Alexander Miller (1994). questão metafísica se ela captura um conceito que vale a pena considerar como verdade” (1992: 34). A teoria da verdade minimalista de Wright tem sido extraordinariamente influente na metaética, particularmente por não-cognitivistas ansiosos para acomodar parte da estrutura lógica que o discurso moral aparentemente evidencia, mas sem ver os enunciados morais como expressando crenças que devem literalmente corresponder a fatos. Tal teoria não-cognitivista da verdade moral minimalista é defendida por Simon Blackburn (1993), que caracteriza a visão resultante como “quase-realismo” (como discutido na seção 3a acima). Para uma discussão crítica sobre até que ponto visões não-cognitivistas como o quase-realismo de Blackburn podem alavancar a teoria do minimalismo de Wright, veja o debate entre Michael Smith (1994) e John Divers e Alexander Miller (1994).
4. Questões Ontológicas na Metaética
uma. Realismos morais
Se a verdade moral é entendida no sentido tradicional de corresponder à realidade, que tipo de características da realidade seriam suficientes para acomodar essa correspondência? Que tipo de entidade é “errado” ou “bondade” em primeiro lugar? O ramo da filosofia que trata do modo como as coisas existem é chamado de “ontologia”, e as posições metaéticas também podem ser divididas de acordo com a forma como vislumbram o status ontológico dos valores morais. Talvez o maior cisma dentro da metaética seja entre aqueles que afirmam que existem fatos morais que são “reais” ou “objetivos” no sentido de que existem independentemente de quaisquer crenças ou evidências sobre eles, versus aqueles que pensam que valores morais não são crenças. – “fatos” independentes, mas são criados por indivíduos ou culturas de maneiras às vezes radicalmente diferentes.realistas ou objetivistas ; os proponentes desta última visão são chamados de relativistas ou subjetivistas .
O realismo / objetivismo é frequentemente defendido pelo apelo às implicações normativas ou políticas de acreditar que existem verdades morais universais que transcendem o que qualquer indivíduo ou mesmo uma cultura inteira possa pensar sobre elas (ver seções dois e oito). As posições realistas, no entanto, discordam sobre o que são precisamente os valores morais se forem causalmente independentes da crença ou cultura humana. De acordo com alguns realistas, os valores morais são propriedades abstratas que são “objetivas” no mesmo sentido em que as propriedades geométricas ou matemáticas podem ser consideradas objetivas. Por exemplo, pode-se pensar que a frase “Cães são caninos” é verdadeirade uma maneira que é independente do que os humanos pensam sobre isso, sem por isso acreditar que existe uma coisa literal e física chamada “cães” – pois, cães em geral (em vez de um cão em particular, digamos, Fido) é um conceito. Alguns realistas morais imaginam os valores morais como reais sem serem físicos exatamente dessa maneira; e por causa da semelhança entre essa visão e a famosa Teoria das Formas de Platão , tais realistas morais também são às vezes chamados de platônicos morais. De acordo com esses realistas, os valores morais são reais sem serem redutíveis a quaisquer outros tipos de propriedades ou fatos: os valores morais, em vez disso, de acordo com esses realistas, são ontologicamente únicos (ou sui generis ) e irredutíveis a outros tipos de propriedades. Os proponentes deste tipo de platônico ou sui generisversão do realismo moral incluem GE Moore (1903), WD Ross (1930), WD Hudson (1967), Iris Murdoch (1970, sem dúvida) e Russ Shafer-Landau (2003). Tom Regan (1986) também discute o efeito dessa posição metaética no clima intelectual geral do movimento fin de siècle conhecido como Grupo Bloomsbury.
Outros realistas morais, porém, concebem a ontologia das propriedades morais em termos muito mais concretos. De acordo com esses realistas, propriedades morais como “bondade” não são entidades puramente abstratas, mas são sempre realizadas e incorporadas em estados físicos particulares de coisas. Esses realistas morais muitas vezes traçam analogias entre propriedades morais e propriedades científicas como gravidade, velocidade, massa e assim por diante. Esses conceitos científicos são comumente considerados como existindo independentemente do que pensamos sobre eles, e ainda assim eles não fazem parte de um mundo ontologicamente distinto de ideias puras e abstratas da maneira que Platão imaginou. Assim também as propriedades morais podem, em última análise, ser redutíveis a características científicas do mundo de uma maneira que preserve sua objetividade. Um dos primeiros proponentes de tal naturalismoponto de vista é sem dúvida Aristótelesele mesmo, que ancorava sua ética em uma compreensão do que biologicamente faz a vida humana florescer. Para um realismo moral aristotélico posterior, ver Paul Bloomfield (2001). No entanto, para questões sobre até que ponto o aristotelismo pode realmente combinar com o realismo moral, ver Robert Heinaman (1995). Observe também que vários outros metaeticistas que compartilham concepções amplamente aristotélicas das necessidades humanas e do florescimento humano rejeitam o realismo, argumentando que mesmo uma natureza humana compartilhada ainda localiza essencialmente valores morais na sensibilidade humana, e não em alguma realidade moral trans-humana. Para exemplos desse relativismo moral naturalista, ver Philippa Foot (2001) e David B. Wong (2006). Afirmações semelhantes sobre os papéis inelimináveis que a sensibilidade e a linguagem humanas desempenham na constituição da realidade moral parecem menosAristóteles e mais a Wittgenstein ; embora, como no primeiro caso, possa haver algum desconforto ao permitir que visões que ligam intimamente a moralidade às sensibilidades humanas sejam chamadas de genuinamente “realistas”. Para exemplos, ver em particular David Wiggins (1976) e Sabina Lovibond (1983). Outros teóricos notáveis que avançaram nas explicações wittgensteinianas do papel constitutivo que a linguagem e o contexto desempenham em nossa compreensão da moralidade incluem GEM Anscombe (1958) e Alasdair MacIntyre (1981), embora ambos sejam explicitamente agnósticos sobre se isso os compromete com o realismo moral ou o relativismo. .
O naturalistaA tradição do realismo moral é continuada por teóricos contemporâneos como Alan Gewirth (1980), Deryck Beyleveld (1992) e Michael Boylan (2004), que similarmente buscam fundamentar a objetividade moral em certas características universais dos humanos. Ao contrário dos apelos aristotélicos à nossa natureza biológica e social, no entanto, esses teóricos adotam uma postura kantiana, que apela às capacidades e requisitos da agência racional – por exemplo, o que Gewirth chamou de “princípio da consistência genérica”. Embora essas teorias neokantianas estejam mais focadas em questões sobre a justificação das crenças morais do que na existência de valores ou propriedades independentes da crença, elas podem, no entanto, ser classificadas como realismos morais à luz de seu compromisso com a natureza objetiva e universal da crença. racionalidade. Para comentários e discussão de tais teorias,
Outras teorias naturalistas olharam para modelos científicos de reducionismo de propriedade como uma forma de entender o realismo moral. Da mesma forma que, por exemplo, nosso entendimento de senso comum de “água” se refere a uma propriedade que, no nível científico, é apenas H 2Oh, os valores morais também podem ser reduzidos a propriedades não-morais. E, uma vez que essas propriedades não morais são entidades reais, a visão resultante sobre os valores que se reduzem a elas pode ser considerada uma forma de realismo moral – sem qualquer necessidade de postular entidades platônicas transcientíficas e sobrenaturais. Esta abordagem geral do realismo naturalista é muitas vezes referida como “Realismo de Cornell” à luz do fato de que vários de seus defensores proeminentes estudaram ou ensinaram na Universidade de Cornell. Geoff Sayre-McCord (1988) também o apelidou de “Realismo Moral da Nova Onda”. Os proponentes individuais de tal visão podem ter visões divergentes sobre como a suposta “redução” do moral ao não-moral funciona precisamente. Richard Boyd (1988), por exemplo, defende a visão de que a relação redutiva entre propriedades morais e não morais é a priori e necessária, mas não singular; as propriedades morais podem, em vez disso, reduzir-se a um “grupo homeostático” de diferentes propriedades não morais sobrepostas.
Vários outros exemplos notáveis de realismo moral naturalista de mentalidade científica foram defendidos. Nicholas Sturgeon (1988) também argumentou a favor de uma redução de propriedades morais para não-morais, enfatizando que uma redução no nível da denotação ou extensão de nossos termos morais não precisa implicar uma redução correspondente no nível da conotação. ou intenção de como falamos sobre moralidade. Em outras palavras, podemos afirmar que os valores são apenas (conjuntos de) propriedades naturais sem com isso pensar que podemos ou devemos abandonar nossa linguagem moral ou processos explicativos/justificativos. David Brink (1989) articulou um tipo similar de realismo moral naturalista que enfatiza os aspectos epistemológicos e motivacionais do realismo de Cornell ao defender uma teoria coerentista .explicação da justificação e uma teoria externalista da motivação, respectivamente. Peter Railton (1986) também ofereceu uma versão do realismo moral naturalista segundo a qual as propriedades morais são reduzidas a propriedades não morais; no entanto, as propriedades não morais em questão não são tanto propriedades científicas (ou agrupamentos de tais propriedades), mas são constituídas pelos “interesses objetivos” de agentes epistêmicos ideais ou “espectadores imparciais”. Ainda outra variedade de realismo moral naturalista foi apresentada por Frank Jackson e Philip Pettit (1995). De acordo com sua visão de “funcionalismo moral analítico”, as propriedades morais são redutíveis a “qualquer coisa que desempenhe seu papel na moralidade popular madura.
Uma maneira útil de entender as diferenças entre todas essas variedades de realismo moral – a saber, as versões platônica versus naturalista – é apelar para um famoso argumento avançado por GE Mooreno início da metaética do século XX. Moore – ele mesmo um defensor da visão platônica da moralidade – argumentou que propriedades morais como “bom” não podem ser definidas apenas por propriedades científicas e naturais como “florescimento biológico” ou “coordenação social” pela simples razão de que, dada tal suposta definição, poderíamos sempre perguntar sensatamente se tais propriedades científicas eram realmente boas ou não. A aparente capacidade de sempre manter o status moral de qualquer coisa científica ou natural como uma “questão em aberto” levou Moore a rejeitar qualquer análise de moralidade que definisse valores morais como algo diferente de simplesmente “moral” .. Qualquer tentativa de violar essa proibição deve resultar, acreditava Moore, no cometimento de uma “falácia naturalista”. Os platônicos morais ou realistas não naturalistas tendem a ver o Argumento da Questão Aberta de Moore como persuasivo. Os realistas naturalistas, por outro lado, argumentam que o argumento de Moore não é convincente com base em que nem todas as verdades — morais ou não — necessariamente precisam ser verdadeiras apenas por definição. Afinal, tais realistas argumentarão, afirmações científicas como “Água é H 2 O” são verdadeiras, embora as pessoas possam (e o fizeram por muito tempo) questionar essa definição.
Michael Smith (1994) se referiu a essa estratégia realista de definir propriedades morais como propriedades naturalistas que os humanos descobrem, em vez de serem simplesmente verdadeiras por definição, como “naturalismo ético sintético”. Um argumento contra essa forma de realismo moral foi desenvolvido por Terry Horgan e Mark Timmons (1991), com base em um experimento mental chamado Moral Twin Earth. Esse experimento mental nos pede para imaginar dois mundos diferentes, a Terra real como a conhecemos e uma Terra de realidade alternativa na qual os mesmos termos morais que os da Terra real são usados para se referir às mesmas propriedades naturais/científicas (como o realista moral naturalista quer dizer). No entanto, Horgan e Timmons apontam que podemos ao mesmo tempo imaginar que os termos morais em nossa Terra real se referem a, digamos,Utilitarismosustenta), enquanto também imagina que os termos morais usados na hipotética Terra Gêmea Moral se referem a propriedades da racionalidade universal (como sustentam os teóricos normativos kantianos). Mas isso mostraria que os termos morais usados na Terra real versus aqueles usados na Moral Twin Earth têm significados diferentes, porque se referem a diferentes teorias normativas. Isso implica que seriam as próprias teorias normativas que estão causando a diferença no significado dos termos morais, não as propriedades naturais, uma vez que são idênticas nos dois mundos. E como o realismo moral naturalista (também conhecido como Cornell) sustenta que as propriedades morais são idênticas em algum nível às propriedades naturais, Horgan e Timmons pensam que esse experimento mental refuta o realismo naturalista. Em outras palavras, se os realistas naturalistas estivessem corretos sobre a redução de predicados morais a não-morais, então os terráqueos e os terráqueos gêmeos teriam de ser interpretados não como discordando genuinamente sobre a moralidade, mas como falando um ao outro completamente; e, de acordo com Horgan e Timmons, isso seria altamente contra-intuitivo, uma vez que parece superficialmente que as duas partes estão realmente discordando.
A questão central no argumento da Terra Gêmea Moral é a questão de quão precisamente os realistas naturalistas visualizam as propriedades morais sendo “reduzidas” a propriedades naturais e científicas em primeiro lugar. Tais realistas frequentemente invocam a relação metafísica de superveniênciapara explicar a maneira como as propriedades morais podem se conectar às propriedades científicas. Para que uma propriedade ou conjunto de propriedades sobreviva a outra significa que qualquer mudança em uma deve necessariamente resultar em uma mudança correspondente na outra. Por exemplo, dizer que a propriedade de cor do verdor sobrevém à grama é dizer que se duas parcelas de grama são idênticas em todos os aspectos biológicos e científicos, elas também serão verdes exatamente da mesma maneira. Simon Blackburn (1993: 111-129), no entanto, levantou uma séria objeção ao uso dessa noção para explicar a superveniência moral. Blackburn afirma que se as propriedades morais sobrevieram às propriedades naturais, então deveríamos ser capazes de imaginar dois mundos diferentes (semelhante à Terra Gêmea Moral de Horgan e Timmons) onde matar é moralmente errado em um mundo, mas não errado no outro mundo – tudo o que teríamos de fazer é imaginar dois mundos em que os fatos naturais e científicos fossem diferentes. E se podemos imaginar coerentemente esses dois mundos, então não há razão para que também não possamos imaginar um terceiro mundo “misto” no qual matar às vezes é errado e às vezes não. Mas Blackburn não acha que podemos de fato imaginar um mundo moralmente misto tão estranho – pois, ele acredita que faz parte de nossa concepção de moralidade que o erro ou a correção moral não mudam ao acaso de caso para caso, todas as coisas sendo iguais. Como Blackburn diz: “Embora eu não possa ver uma inconsistência em manter essa crença [ou seja, a visão de que as proposições morais relatam estados de coisas factuais sobre os quais as propriedades morais sobrevêm de maneira irredutível], não é filosoficamente muito convidativo. A superveniência torna-se, para o realista, um fato opaco, isolado, lógico para o qual nenhuma explicação pode ser oferecida” (1993: 119). Dessa forma, Blackburn não está se opondo à relação de superveniência em si, mas sim a tentar alavancar essa relação em favor do realismo moral. Para um exame crítico da superveniência em princípio, ver Kim (1990); Blackburn tenta renovar sua noção de superveniência em resposta à crítica de Kim em Blackburn (1993: 130-148).
Além do debate entre realistas morais naturalistas e não-naturalistas, alguns metaeticistas exploraram a possibilidade de que as propriedades morais possam ser “reais” sem a necessidade de serem totalmente independentes da sensibilidade humana. De acordo com essas teorias do realismo moral, os valores morais podem ser semelhantes às chamadas “propriedades disposicionais”. Uma propriedade disposicional (às vezes entendida como uma “qualidade secundária”) é vista como uma espécie de potencial ou disposição latente, inerente a algum objeto externo ou estado de coisas, que se torna ativado ou atualizado por meio do envolvimento por parte de algum outro objeto ou estado. de assuntos. Assim, por exemplo, as propriedades de ser frágil ou parecer vermelhosão pensados para envolver uma disposição latente para quebrar sob certas condições ou parecer vermelho sob uma certa luz. A sugestão de que os valores morais podem ser igualmente disposicionais ficou famosa por John McDowell (1985). De acordo com essa visão, propriedades morais como “bondade” ainda podem ser reais no nível de possibilidade disposicional (da mesma forma que o vidro ainda é frágil mesmo quando não está quebrando, ou que o sangue é vermelho mesmo na escuridão), enquanto ainda só é exprimível por referência às características (agentes morais reais, no caso da moralidade) que atualizariam essas disposições. Para posições metaéticas semelhantes que buscam articular um modelo de valores morais que são objetivos, mas relacionais com aspectos da sensibilidade humana, ver David Wiggins (1976), Sabina Lovibond (1983), David McNaughton (1988), Mark Platts (1991), Jonathan Dancy (2000) e DeLapp (2009). Argumentos contra essa forma de realismo moral disposicional normalmente tentam alavancar supostas desanalogias entre propriedades morais e outras propriedades disposicionais não morais (ver especialmente Blackburn 1993).
b. Relativismos morais
Outras posições metaéticas rejeitam totalmente a ideia de que os valores morais – sejam naturalistas, não-naturalistas ou disposicionais – sejam reais ou objetivos no sentido de serem independentes da crença ou cultura humana em primeiro lugar. Em vez disso, tais posições insistem na natureza fundamentalmente antropocêntrica da moralidade. De acordo com tais visões, os valores morais não estão “lá fora” no mundo (seja como propriedades científicas, propriedades disposicionais ou Formas Platônicas ), mas são criados por perspectivas e necessidades humanas. Uma vez que essas perspectivas e necessidades podem variar de pessoa para pessoa ou de cultura para cultura, essas teorias metaéticas são geralmente chamadas de “subjetivismo” ou “relativismo” (às vezes, niilismo moral).também; embora, este seja um termo mais normativamente carregado). Muitas das razões a favor do relativismo metaético dizem respeito tanto à rejeição dos modelos ontológicos realistas discutidos acima, quanto ao apelo a considerações psicológicas, epistemológicas ou antropológicas (ver seções 5, 6, 7 abaixo).
A maioria das formas de relativismo metaético visualiza os valores morais como construídos para propósitos humanos diferentes e às vezes incomensuráveis, como coordenação social e assim por diante. Essa visão é explicitamente endossada por Gilbert Harman (1975), mas também pode ser implicitamente associada de diferentes maneiras a qualquer posição que conceba o valor moral como construído por comandos divinos (Adams 1987; ver também Teoria do Comando Divino ), racionalidade humana idealizada (Korsgaard 1996) ou perspectiva (Firth 1952), ou um contrato social entre interesses concorrentes (Scanlon 1982; Copp 2007). Por esta razão, a visão também é conhecida como construtivismo moral (compare, Shafer-Landau 2003: 39-52). Além disso, o relativismo metaético deve ser distinguido do não-cognitivista.visões metaéticas consideradas acima na seção três. O não-cognitivismo é uma tese semântica sobre o que significam os enunciados morais.– ou seja, que os enunciados morais não são nem verdadeiros nem falsos, mas expressam endossos ou normas prescritivas. O subjetivismo/relativismo/construtivismo metaético, por outro lado, reconhece a precisão semântica do cognitivismo – de acordo com o qual enunciados morais são verdadeiros ou falsos – mas insiste que tais enunciados são sempre, por acaso, falsos. Ou seja, o subjetivismo/relativismo/construtivismo metaético é uma tese sobre a (falta de) fatos morais no mundo, não uma tese sobre o que nós humanos estamos fazendo quando tentamos falar sobre tais fatos. E como o subjetivismo/relativismo/construtivismo metaético pensa que nossa linguagem moral cognitivista é sistematicamente falsa, ela também pode ser conhecida como teoria do erro moral (Mackie 1977) ou ficcionalismo moral (Kalderon 2005).
Embora o relativismo metaético seja frequentemente descrito como abraçando um mundo sem valor de moral livre para todos, versões mais sofisticadas da teoria tentaram colocar certos limites na moralidade de uma forma que ainda afirma a centralidade humana fundamental dos valores. Assim, David B. Wong (1984; 2006) defendeu uma visão que ele chama de relativismo moral pluralista segundo a qual os valores morais são construídos de forma diferente por diferentes grupos sociais para diferentes propósitos; mas de tal maneira que o grau de relatividade será, no entanto, limitado por uma descrição biológica geralmente uniforme da natureza humana e do florescimento. Uma concepção semelhante de relativismo metaético que, no entanto, é fundamentada em alguma noção de características biológicas humanas universais pode ser encontrada em Philippa Foot (2001).
5. Psicologia e Metaética
Uma das questões mais prementes dentro da metaética analítica diz respeito a como a moralidade envolve nossas psicologias humanas incorporadas. Especificamente, como (se for o caso) os julgamentos morais nos levam a agir de acordo com eles? Existe alguma razão para ser moral por si só, e podemos dar razões psicologicamente persuasivas para outros agirem moralmente se eles ainda não reconhecem tais razões? Faz parte da definição de conceitos morais como “certo” e “errado” que eles devem ou não ser perseguidos, ou é possível saber que, digamos, assassinato é moralmente errado, mas mesmo assim não reconhecer qualquer razão para não assassinato?
uma. Motivação e Razões Morais
Aqueles que argumentam que a motivação psicológica para agir moralmente já está implícita no julgamento de que algo é moralmente bom, são comumente chamados de internalistas motivacionais . Os internalistas motivacionais podem ser divididos em internalistas motivacionais fracos ou internalistas motivacionais fortes.internalistas motivacionais, de acordo com a força da motivação que eles pensam que os verdadeiros julgamentos morais vêm pré-empacotados. Assim, a visão socrática de que o mal é sempre realizado por ignorância (pois ninguém, segundo o argumento, faria conscientemente algo que prejudicaria moralmente seu próprio caráter ou alma) pode ser vista como um tipo de internalismo motivacional forte. Versões mais fracas de internalismo motivacional podem insistir apenas que os julgamentos morais fornecem seu próprio ímpeto para agir de acordo, mas que esse ímpeto pode (e talvez muitas vezes seja) anulado por forças motivacionais contrárias. Assim, AristótelesO famoso relato da “fraqueza da vontade” tem sido interpretado como um tipo mais fraco de internalismo motivacional, segundo o qual uma pessoa pode reconhecer que algo é moralmente certo e pode até querer em algum nível fazer o que é certo, mas ainda assim é atraída longe de tal ação, talvez por meio de tentações mais fortes.
Além do que realmente motiva as pessoas a agir de acordo com seus julgamentos morais, no entanto, há a questão um pouco diferente sobre se tais julgamentos também fornecem suas próprias razões intrínsecas para agir de acordo com eles. Razões-externalistasafirmar que julgar sinceramente que algo é moralmente errado, por exemplo, automaticamente fornece ao julgador uma razão que justificaria sua ação com base nesse julgamento, ou seja, uma razão que é externa ou independente do que o próprio julgador sente ou quer. Isso não precisa significar que tal justificativa seja uma justificativa objetivamente adequada (que dependeria se alguém era realista ou relativista sobre metaética), apenas que faria sentido como uma resposta à pergunta “Por que você fez isso?” dizer “Porque julguei que era moralmente correto” (compare, McDowell 1978; Shafer-Landau 2003). De acordo com os internalistas das razões, no entanto, julgar e justificar são duas questões conceitualmente diferentes, tal que alguém pudesse fazer um julgamento legítimo de que uma ação era moralmente errada e ainda assim deixar de reconhecer qualquer razão que justificasse sua não realização. Em vez disso, razões morais suficientemente justificadas devem existir independentemente e internamente à constituição psicológica de uma pessoa (compare, Foot 1972; Williams 1979).
Intimamente relacionada aos debates entre internalismo e externalismo está a questão do status metaético de supostos psicopatas ou sociopatas. De acordo com alguns psicólogos morais, tais indivíduos são caracterizados por uma falha em distinguir valores morais de valores meramente convencionais. Vários metaeticistas apontaram para a aparente existência de psicopatas como suporte para a verdade do externalismo motivacional ou das razões; já que os psicopatas parecem ser capazes de julgar que, por exemplo, assassinato ou mentira são moralmente errados, mas ou sentem pouca ou nenhuma motivação para se abster dessas coisas, ou então não reconhecem nenhuma razão que justifique a abstenção dessas coisas. Os internalistas motivacionais e os externalistas das razões, no entanto, também têm procurado acomodar o desafio apresentado pelo psicopata, por exemplo,sei que o que ela está fazendo é errado, mas só sabe usar a palavra “errado” mais ou menos da maneira que o resto da sociedade faz.
Uma questão separada relacionada ao debate internalista/externalista diz respeito à aparente singularidade psicológica dos julgamentos morais. Especificamente, pelo menos de acordo com o internalista motivacional e o externalista de razões, os julgamentos morais devem fornecer, respectivamente, suas próprias motivações inerentes ou razões justificadoras, ou seja, sua própria qualidade intrínseca de “a ser perseguido”. No entanto, isso parece tornar a moralidade suspeitamente única – ou o que JL Mackie (1977) chama de “metafisicamente queer” – uma vez que todos os outros julgamentos não morais (por exemplo, julgamentos científicos, factuais ou perceptivos) não parecem fornecer qualquer motivações ou justificativas inerentes. A objeção não é que julgamentos não morais (por exemplo, “Este café é descafeinado”) não fornecemforça motivacional ou justificativa, mas meramente que qualquer motivação ou força justificadora depende de outros fatores psicológicos independentes do próprio julgamento (ou seja, o julgamento sobre o café sendo descafeinado só irá motivar ou fornecer uma razão para você beber se você já tem o desejo de evitar a cafeína). Ao contrário do julgamento factual sobre o café, porém, o julgamento moral de que uma ação é errada deve ser motivador ou dar razões, independentemente dos desejos ou interesses pessoais do julgador. Os internalistas motivacionais ou os externalistas das razões responderam a essa suposta “estranheza” abraçando a singularidade dos julgamentos morais ou tentando articular outros exemplos de julgamentos não morais que também podem fornecer motivação ou razões inerentes.
b. Metaética Experimental
Não só a psicologia tem sido de interesse para metaeticistas, mas a metaética também tem sido de interesse para psicólogos. O movimento conhecido como filosofia experimental(compare, Appiah 2008; Knobe e Nichols 2008) – que procura complementar as afirmações filosóficas teóricas com atenção empírica sobre como as pessoas realmente pensam e agem – rendeu inúmeras descobertas sugestivas sobre uma variedade de posições metaéticas. Por exemplo, com base em pesquisas empíricas em psicologia social, vários filósofos sugeriram que os julgamentos, motivações e avaliações morais são altamente sensíveis a variáveis situacionais de uma forma que pode desafiar a universalidade ou autonomia da moralidade (Flanagan 1991; Doris 2002). Outros psicólogos morais exploraram as possibilidades de divergências no raciocínio moral e valoração em relação ao gênero (Gilligan 1982), etnia (Markus e Kitayama 1991; Miller e Bersoff 1992) e afiliação política (McCrae 1992; Haidt 2007).
O debate específico entre realismo metaético e relativismo também foi recentemente examinado a partir de perspectivas experimentais. Tem sido argumentado que uma análise empiricamente informada dos compromissos metaéticos reais das pessoas (como eles são) é necessária para verificar e equilibrar os muitos apelos frequentes à “moralidade do senso comum” ou “experiência moral comum”. Realistas, bem como relativistas, muitas vezes usaram tais apelos como um meio de localizar um ônus da prova a favor ou contra suas teorias, mas as descobertas experimentais reais sobre as intuições metaéticas dos leigos permanecem confusas. Para exemplos de realistas assumindo o realismo popular, ver Brink (1989: 25), Smith (1994: 5) e Shafer-Landau (2003: 23); para exemplos de relativistas assumindo o relativismo popular, ver Harman (1985); e para exemplos de relativistas assumindo o realismo popular,William James (1896: 14) ofereceu uma descrição psicológica inicial dos humanos como “absolutistas por instinto”, embora os compromissos metaéticos específicos de James permaneçam obscuros (compare, Suckiel 1982). Por um lado, Shaun Nichols (2004) argumentou que o relativismo metaético é particularmente pronunciado entre estudantes universitários. Por outro lado, William Rottschaefer (1999) argumentou que o realismo moral é empiricamente apoiado pela atenção às práticas efetivas de educação infantil.
c. Emoções Morais
Outro tópico psicológico que tem sido de interesse dos metaeticistas é a natureza e o significado das emoções morais . Um aspecto desse debate tem sido a perene questão de saber se é fundamentalmente a racionalidade que fornece nossas distinções e motivações morais, ou se elas são geradas ou condicionadas por paixões e sentimentos separados da razão. (Veja a seção 5a acima para mais informações sobre este debate.) Em particular, este debate foi uma das questões divisórias na ética do século XVIII entre a chamada Escola Intelectualista (por exemplo, Ralph Cudworth , William Wollaston, e assim por diante), que enfatizava a compreensão racional de certas “aptidão moral” por um lado, e a Escola Sentimentalista (por exemplo, Shaftesbury, David Hume , e assim por diante), que enfatizou o papel desempenhado por nosso “senso moral” não cognitivo, por outro lado (compare, Selby-Bigge 1897; veja também Darwall 1995 para uma aplicação dessas visões aos debates metaéticos contemporâneos sobre motivação moral e conhecimento).
Além de questões motivacionais e epistemológicas, no entanto, as emoções morais têm sido de interesse dos metaeticistas em termos da aparente fenomenologia que fornecem. Em particular, foi dada atenção para qual teoria metaética, se houver, acomoda melhor a existência de “emoções retributivas” auto-retributivas, como culpa, arrependimento, vergonha e remorso. Martha Nussbaum (1986) e Bernard Williams (1993), por exemplo, chamaram a atenção para as poderosas respostas emocionais características da tragédia grega, e a chamada sorte moralque tais experiências parecem envolver. Segundo Williams (1965), a sensibilidade aos dilemas morais revelará um quadro da esfera moral segundo o qual mesmo as ações mais bem intencionadas podem deixar “manchas” ou “restos” morais em nosso caráter. Michael Stocker (1990) estende essa análise das emoções morais a cenários mais gerais de conflitos inelimináveis entre valores, e Kevin DeLapp (2009) explora as implicações específicas das emoções trágicas para as teorias do realismo moral. Em contraste, Gilbert Harman (2009) argumentou contra o significado moral (e muito menos metaético) dos sentimentos de culpa. Patricia Greenspan (1995), no entanto, alavancou a fenomenologia da culpa (particularmente como ela a identifica em casos de erros inevitáveis) como uma defesa do realismo moral. Para mais perspectivas sobre a natureza e o significado dos dilemas morais, ver Gowans (1987). Para saber mais sobre a filosofia deemoções em geral, ver Calhoun & Solomon (1984).
6. Questões Epistemológicas na Metaética
A metaética analítica também explora questões de como fazemos julgamentos morais em primeiro lugar e como (se é que somos capazes de conhecer verdades morais). O campo da epistemologia moral pode ser dividido em questões sobre o que é o conhecimento moral, como as crenças morais podem ser justificadas e de onde vem o conhecimento moral.
uma. Conceitos morais grossos e finos
A epistemologia moral explora os contornos do próprio conhecimento moral – não o conteúdo específico das crenças morais individuais, mas as características conceituais das crenças morais como uma categoria epistêmica geral. Aqui, uma das maiores questões diz respeito se o conhecimento moral envolve afirmações sobre valores morais genéricos como “bondade” ou “errado” (os chamados conceitos morais “magros”) ou se o conhecimento moral pode ser obtido no nível um pouco mais concreto de conceitos como “coragem”, “intemperança” ou “compaixão” (que parecem ter um conteúdo descritivo “mais grosso”). A metodologia geral da distinção grosso-fino foi popularizada por Clifford Geertz (1973) após a introdução da terminologia por Gilbert Ryle (1968). Sua aplicação específica à metaética, no entanto, deve-se em grande parte ao famoso argumento de Bernard Williams (1985) de que o conhecimento moral genuíno (isto é, orientador da ação) só pode existir no nível mais denso dos conceitos morais concretos. Isso representa o que Williams chamou de “limites da filosofia”, uma vez que a teorização filosófica visa, em vez disso, princípios morais mais abstratos e tênues. Além disso, segundo Williams, esse ponto epistemológico sobre a espessura do conhecimento moral tem implicações importantes para a ontologia dos valores morais; ou seja, Williams defende um tipo de relativismo metaético com base em que, mesmo que conceitos morais ralos como “bondade” sejam universais em diferentes sociedades, os conceitos densos mais específicos que ele acha que realmente importam para nós moralmente são especificados de maneiras muitas vezes divergentes, por exemplo,
A ênfase em conceitos morais densos tem prevalecido na ética da virtude em geral. Por exemplo, Alasdair MacIntyre (1984) defendeu notoriamente a visão neo-aristotélica de que a ética deve ser fundamentada em uma “tradição” que seja coerente e estável o suficiente para especificar virtudes e modelos virtuosos. De fato, parte do desafio que MacIntyre vê diante das sociedades contemporâneas é que o aumento da interconexão intercultural fomentou uma fragmentação das estruturas tradicionais de virtude, gerando uma cacofonia moral que ameaça minar a motivação moral, o conhecimento e até mesmo nossa confiança no que conta como “ racional” (MacIntyre 1988). Mais recentemente, David B. Wong (2000) ofereceu uma visão confucionista contemporânearesposta às preocupações do estilo MacIntyre sobre a fragmentação moral nas sociedades democráticas, argumentando que as sociedades pluralistas ainda podem manter uma tradição coerente na forma de “rituais” cívicos, como o voto.
Uma questão metaética relacionada diz respeito ao escopo dos julgamentos morais e à extensão em que tais julgamentos podem ser legitimamente feitos universalmente ou se deveriam ser indexados a situações ou contextos particulares; essa visão é comumente conhecida como particularismo moral (compare, Hooker e Little 2000; Dancy 2006).
b. Justificação Moral e Explicação
Posições metaéticas também podem ser divididas de acordo com a forma como elas vislumbram os requisitos para justificar crenças morais. Os relatos filosóficos tradicionais de justificação epistemológica são requisitados e modificados especificamente para acomodar o conhecimento moral. Uma versão popular de uma teoria da justificação moral-epistêmica pode ser chamada de fundacionalismo metaético – a visão de que as crenças morais são epistemicamente justificadas pelo apelo a outras crenças morais, até que esse processo de justificação termine em algumas crenças fundamentais cujas próprias justificativas são “auto-evidentes”. ” Em contraste, o coerentismo metaéticorequer para a justificação epistêmica de uma crença moral apenas que ela seja parte de uma rede de outras crenças, todas as quais são conjuntamente consistentes (compare, Sayre-McCord 1985; Brink 1989). Mark Timmons (1996) também defende uma forma de contextualismo metaético , segundo o qual a justificação é determinada seja por referência a algum conjunto relevante de práticas e normas epistêmicas (uma visão que Timmons chama de “contextualismo normativo” e que também guarda forte semelhança com o movimento conhecido como epistemologia da virtude), ou então por referência a algumas crenças mais básicas (uma visão que Timmons chama de “contextualismo estrutural” e que parece muito semelhante ao fundacionalismo). Kai Nielsen (1997) ofereceu outro relato de justificação ética contextualista com referência a sistemas internos de crença e explicação religiosa (ver Epistemologia Religiosa ).
O trabalho do início do século 21 em metaética passou a explorar precisamente o que está envolvido na “auto-evidência” imaginada pelos relatos fundacionalistas da justificação moral. Roger Crisp (2002) observa que a maioria dos desdobramentos históricos de “auto-evidência” na epistemologia moral tendiam a associá-la com obviedade ou certeza. Por exemplo, o intuicionismo ético de grande parte do início do século 20 (particularmente seguindo o Argumento da Questão Aberta de Moore, como discutido acima) tendiam a adotar essa postura em relação às verdades morais (compare, Stratton-Lake 2002). Foi essa compreensão do fundacionalismo metaético que levou JL Mackie (1977) a se opor ao que ele via como a “estranheza epistemológica” da ontologia realista ou objetivista. Em anos posteriores, porém, versões mais sofisticadas do fundacionalismo metaético têm buscado interpretações da “auto-evidência” de crenças morais básicas e justificadoras de uma forma que não precisa envolver suposições dogmáticas ou ingênuas de obviedade; mas pode exigir apenas que tais crenças morais básicas sejam justificadas epistemicamente não inferencialmente(Audi 1999; Shafer-Landau 2003). Um candidato para o que pode significar para uma crença moral ser justificada epistemicamente não-inferencialmente envolveu um apelo ao modelo de crenças perceptivas (Blum 1991; DeLapp 2007). Crenças perceptivas não morais são tipicamente vistas como decisivas em relação à justificação, desde que o observador esteja em condições perceptivas apropriadas e confiáveis. Em outras palavras, de acordo com essa visão, a crença “Há uma caneca de café na minha frente” é justificada epistemicamente apenas no caso de alguém pensar que está percebendo uma caneca de café e desde que não esteja sofrendo de alucinações, apenas usando o próprio visão periférica, ou em um quarto escuro. (Veja também epistemologia da percepção .)
Apesar de não abordar esta questão da percepção moral, Russ Shafer-Landau (2003) argumentou em uma nota relacionada que, em última análise, a diferença entre naturalismo metaético versus não-naturalismo (como descrito na seção 4a) pode não ser tanto ontológica ou metafísica. , pois é epistemológico. Especificamente, de acordo com Shafer-Landau, naturalistas metaéticos são aqueles que exigem que a justificação epistêmica das crenças morais seja inferida com base em outras crenças não morais sobre o mundo natural; enquanto os não-naturalistas metaéticos permitem que a justificação epistêmica das crenças morais seja encerrada com algumas crenças morais brutas que são elas próprias sui generis .
Além das questões do escopo, fonte e justificação das crenças morais, outra faceta epistemológica da metaética diz respeito à explicação explicativa .papel que as propriedades morais putativas desempenham com respeito às crenças morais. Uma maneira útil de enquadrar esta questão é por referência ao ponto influente de Roderick Chisholm (1981) sobre atribuição direta. Chisholm observou que nos referimos a coisas externas atribuindo propriedades a elas diretamente. Usando essa linguagem, podemos enquadrar a questão metaética como se nossa atribuição de propriedades morais a ações, personagens e assim por diante é “direta” (ou seja, externa). Gilbert Harman (1977) argumentou notoriamente que nossa atribuição de propriedades morais não é direta dessa maneira. De acordo com Harman, as propriedades morais objetivas, se existissem, seriam explicativamente impotentes, no sentido de que nossas crenças morais específicas de primeira ordem já podem ser suficientemente explicadas apelando para fatores naturalistas, psicológicos ou perceptivos. Por exemplo, se fôssemos testemunhar pessoas torturando alegremente um animal indefeso, provavelmente formaríamos a crença de que sua ação é moralmente errada; mas, de acordo com Harman, poderíamos explicar adequadamente essa avaliação moral apenas citando vários fatores causais sociológicos, emocionais, comportamentais e perceptivos, sem precisar postular quaisquer propriedades adicionais misteriosas que nossa avaliação também está canalizando. Essa impotência explicativa, acredita Harman, constitui uma séria desanalogia entre, por um lado, o papel que as propriedades metaéticas abstratas desempenham nos julgamentos morais reais (de primeira ordem) e, por outro lado, o papel que as entidades científicas teóricas desempenham nos julgamentos morais reais. julgamentos perceptivos (de primeira ordem). Por exemplo, imagine que estávamos testemunhando a representação na tela de um acelerador de partículas, em vez de pessoas torturando um animal. Embora não façamos literalmentevemos uma partícula subatômica na tela (em vez disso, vemos um monte de pixels que interpretamos como se referindo a uma partícula subatômica) mais do que vemos literalmente “ errado” flutuando em torno dos torturadores de animais, a diferença essencial entre os dois casos é que a crença abstrata adicional de que realmente existempartículas subatômicas são necessárias para explicar por que as inferimos com base em pixels de tela; considerando que, de acordo com Harman, a alegada propriedade de “erro” objetiva é desnecessária para explicar por que desaprovamos a tortura. Nicholas Sturgeon (1988), no entanto, argumentou contra Harman que as propriedades metaéticas de segunda ordem desempenham papéis explicativos legítimos, pela simples razão de que são citadas na justificativa das pessoas de por que consideram a tortura de animais moralmente errada. Assim, para Sturgeon, o que contará como a “melhor explicação” de um fenômeno – ou seja, o fenômeno de condenar moralmente a tortura de um animal – deve ser entendido no contexto mais amplo de nossos objetivos explicativos gerais, um dos quais será entender por quepensamos que torturar animais é objetivamente errado em primeiro lugar.
7. Considerações Antropológicas
Embora grande parte da metaética analítica se refira a debates rarefeitos que muitas vezes podem ser altamente abstraídos de preocupações morais reais e aplicadas, várias posições metaéticas também se basearam fortemente em considerações antropológicas culturais para motivar ou aprofundar seus pontos de vista. Afinal, como discutido acima na seção um, muitas vezes foram momentos reais e históricos de instabilidade ou diversidade cultural que estimularam a reflexão metaética sobre a natureza e o status dos valores morais.
uma. Diferenças entre culturas
Um dos aspectos antropológicos mais influentes da metaética diz respeito ao aparente desafio que o desacordo moral intercultural generalizado e persistente parece representar para os realistas morais ou objetivistas. Se, como os realistas imaginam, os valores morais eram verdadeiramente universais e objetivos, então por que tantas pessoas diferentes parecem ter convicções tão drasticamente diferentes sobre o que é certo e errado? A explicação mais plausível para o fato de as pessoas discordarem persistentemente sobre questões morais, segundo o argumento, é simplesmente que não existem verdades morais objetivas capazes de resolver sua disputa. Ao contrário da aparente convergência em outros domínios de disputa não morais (por exemplo, científico, perceptivo e assim por diante), o desacordo moral parece onipresente e amplamente resistente à adjudicação racional. JL Mackie (1977) aproveita essas características do desacordo moral para motivar o que ele chama de O Argumento da Relatividade. Esse argumento começa com a observação descritiva e antropológica de que culturas diferentes endossam valores e práticas morais diferentes e, em seguida, argumenta como uma inferência para a explicação mais provável desse fato que o relativismo metaético explica melhor essas discrepâncias interculturais.
Mackie refere-se a essas diferenças morais transculturais como “bem conhecidas” e, de fato, parece à primeira vista óbvio que culturas diferentes têm práticas diferentes. O argumento de Mackie, no entanto, busca uma diversidade de práticas que não é meramente descritivamente diferente na superfície, mas que é profundamente moralmente diferente.diferente, se não, em última análise, incomensurável. James Rachels (1986) descreve a diferença entre diferença superficial e descritiva versus diferença moral profunda por referência ao exemplo bem usado da prática tradicional inuíte de deixar os anciãos morrerem de exposição. Embora no nível superficial da descrição, essa prática pareça radicalmente diferente das atitudes ocidentais contemporâneas em relação ao tratamento ético dos idosos (apesar do abuso generalizado de idosos), a justificativa moral subjacente para a prática – ou seja, que os recursos materiais são limitados, os idosos eles mesmos escolhem esse destino, a prática é uma maneira de os mais velhos morrerem com dignidade, e assim por diante – soa notavelmente semelhante em espírito aos tipos familiares de valores morais que os ocidentais contemporâneos invocam.
A própria antropologia cultural gerou controvérsia sobre a extensão e o significado metaético das diferenças morais no nível profundo das justificativas e valores fundamentais. Respondendo tanto à suposição de superioridade cultural quanto à atração romântica de ver culturas exóticas como Nobres Selvagens, os antropólogos do início do século XX frequentemente adotaram uma metodologia de relativismo, alegando que informações empíricas precisas seriam ignoradas se uma diferença cultural fosse examinada. com qualquer viés moral a priori . Um dos primeiros expoentes desse relativismo antropológico foi William Graham Sumner (1906) que, refletindo sobre o que chamou de diferentes costumes culturais(isto é, tradições ou práticas), alegou provocativamente que “os costumes são sua própria garantia”. Numerosos antropólogos que foram influenciados por Franz Boas (1911) adotaram uma recusa semelhante em avaliar moralmente as diferenças interculturais, culminando em uma adoção explícita do relativismo metaético por antropólogos como Ruth Benedict (1934) e Melville Herskovits (1952).
Vários filósofos notáveis da tradição continental também afirmaram o relativismo sociológico e antropológico mencionado acima. Especificamente, o desconstrutivismo de Jacques Derrida , com sua desconfiança em relação aos vieses “logocêntricos”, pode ser entendido como uma advertência contra o objetivismo metaético. Em vez disso, um desconstrutivista pode argumentar que o significado ético (como todo significado) é caracterizado pelo que Derrida chamou de différance ., isto é, uma indecidibilidade intratável. (Ver Derrida (1996), no entanto, para a possibilidade de uma ética desconstrutivista menos relativista.) Outras abordagens continentais contemporâneas também evitaram o realismo. Por exemplo, Mary Daly (1978) defendeu uma crítica feminista radical dos preconceitos sexuais inerentes à forma como falamos sobre valores. Para outras perspectivas sobre as possíveis tensões entre o feminismo e a metaética da diversidade cultural, ver Okin (1999) e Nussbaum (1999: 29-54). Michel Foucault(1984) também é conhecido por sua crítica geral aos usos e abusos de poder na construção e expressão de valorações morais referentes à saúde mental, sexualidade e criminalidade. Críticas semelhantes sobre o transplante de um conjunto particular de valores culturais para outros contextos culturais foram expressas por vários pós-colonialistas e teóricos literários , que teorizaram sobre o imperialismo, o silenciamento (Spivak 1988), o orientalismo (Said 1978) e hibridismo cultural (Bhabha 1994) tal universalismo moral pode envolver.
b. Semelhanças entre culturas
Apesar de toda a aparente diversidade moral transcultural, no entanto, também houve várias sugestões contra a extensão do relativismo antropológico ao nível metaético. Primeiro, uma variedade de estudos empíricos parece sugerir que o grau de similaridade moral no nível profundo das justificativas e valores fundamentais pode ser maior do que Boas e seus alunos previram. Assim, por exemplo, Jonathan Haidt (2004) argumentou que as diferenças interculturais mostram fortes evidências de resolução em torno de um número finito de valores morais básicos (o que Haidt chama de “módulos”). De uma perspectiva um pouco mais abstrata, Thomas Kasulis (2002) também defendeu a visão de que as diferenças interculturais podem ser classificadas em duas “orientações” fundamentais. No entanto, o congelamento de diferenças interculturais em torno de uma pequena,
Há também vários desafios teóricos para inferir o relativismo metaético a partir de diferenças antropológicas. Por um lado, como Michele Moody-Adams (1997) argumentou, avaliações metaéticas sobre o grau ou profundidade das diferenças morais são “empiricamente subdeterminadas” pela descrição antropológica das próprias práticas. Por exemplo, dados antropológicos sobre o conteúdo moral de uma prática culturalmente diferente podem ser tendenciosos em nome do informante cultural que fornece os dados ou caracterização. Críticas semelhantes ao relativismo moral intercultural alavancaram o que é conhecido como O Princípio da Caridade – a percepção hermenêutica de que as diferenças devem pelo menos ser comensuráveis o suficiente para serem enquadradas como “diferentes” umas das outras em primeiro lugar. Assim, segue o argumento, se as diferenças morais interculturais fossem tão radicalmente diferentes a ponto de serem incomparáveis umas às outras, nunca poderíamos discordar verdadeiramente moralmente; em vez disso, estaríamos simplesmente “falando” uns com os outros (compare Davidson 2001). Grande parte de nossa capacidade de traduzir entre as práticas morais de uma cultura e outra – uma habilidade central para o próprio empreendimento defilosofia comparativa – pressupõe que mesmo as diferenças morais ainda são diferenças morais reconhecíveis em sua raiz.
8. Implicações Políticas da Metaética
Além de acomodar ou explicar a existência de desacordos morais, a metaética também foi pensada para fornecer alguma visão sobre como devemos responder a tais diferenças no nível normativo ou político. Na maioria das vezes, os debates sobre a resposta moralmente apropriada às diferenças morais foram enquadrados em análises sobre a relação entre metaética e tolerância . Por um lado, tolerar práticas e valores com os quais se pode discordar tem sido uma marca registrada das sociedades democráticas liberais. Se essa atitude permissiva, no entanto, for estendida indiscriminadamente a todosvalores e práticas com os quais discorda? Algumas diferenças morais são simplesmente intoleráveis, de tal forma que minar as próprias convicções morais de alguém até mesmo tentar tolerá-las? Mais irritantemente, é conceitualmente possível ou desejável tolerar a intolerância dos outros (um paradoxo às vezes chamado de Dilema do Liberal)? Karl Popper (1945) argumentou notoriamente contra a tolerância da intolerância, que ele via como uma extensão excessivamente indulgente do conceito e que minaria a “sociedade aberta” que ele acreditava ser um pré-requisito para a tolerância em primeiro lugar. Em contraste, John Rawls (1971) argumentou que a tolerância – mesmo da intolerância – é uma parte constitutiva da justiça(derivado do que Rawls chama de “princípio da liberdade” da justiça), de tal forma que o fracasso em ser tolerante acarretaria o fracasso em satisfazer um dos requisitos da justiça. Rawls enfatiza, no entanto, que a tolerância genuína não precisa levar à utopia ou ao acordo, e que é substancialmente diferente de um mero modus vivendi , ou seja, simplesmente tolerar uns aos outros porque somos impotentes para fazer o contrário. De acordo com Rawls, a verdadeira tolerância requer que procuremos trazer nossas diferenças para um “consenso sobreposto”, que ele afirma ser possível devido a uma incompletude inerente e “frouxidão em nossas visões abrangentes” (2001: 193).
O valor da tolerância é frequentemente reivindicado como um patrimônio exclusivo das teorias metaéticas individuais. Por exemplo, os relativistas metaéticos frequentemente argumentam que somente reconhecendo a natureza subjetiva e convencional da moralidade podemos entender por quenão devemos julgar moralmente os valores ou práticas dos outros — afinal, de acordo com o relativismo, não haveria um padrão cultural transcendente contra o qual fazer tais julgamentos. Por esta razão, Neil Levy afirma que “a percepção de que o relativismo promove, ou é a expressão da tolerância à diferença é quase certamente o fator mais importante para explicar sua atração” (2002: 56). De fato, mesmo os realistas metaéticos (Shafer-Landau 2004: 30-31) frequentemente observam que os endossos do relativismo na graduação parecem ser motivados por uma ansiedade em condenar práticas estrangeiras. Apesar da aparente margem de manobra em relação às diferenças morais que o relativismo metaético parece permitir, vários realistas argumentaram, em contraste, que o relativismo poderia ser igualmente compatível com a intolerância. Afinal, vai o argumento,a fortiori , as práticas intolerantes também não podem ser consideradas universal ou objetivamente erradas. Pessoas ou culturas que não aprovam uma prática intolerante estariam apenas refletindo sua própriacompromisso da cultura com a tolerância (compare Graham 1996). Por esta razão, vários metaeticistas têm argumentado que o realismo sozinho pode apoiar o compromisso com a tolerância como um valor universal – de tal forma que a intolerância pode ser moralmente condenada – porque apenas o realismo permite a existência de valores morais objetivos universais (compare, Shafer-Landau 2004 : 30-33). Nicholas Rescher (1993) expressa uma preocupação relacionada com o que ele chama de “indiferentismo” – uma indiferença niilista em relação a compromissos éticos específicos que podem ser ocasionados por uma adoção do relativismo metaético. A própria solução de Rescher para o problema potencial do indiferentismo (ele chama sua visão de “contextualismo” ou “racionalismo de perspectiva”) envolve o reconhecimento da natureza motivacional das circunstâncias,
A questão de qual teoria metaética – realismo ou relativismo – pode reivindicar melhor a tolerância, no entanto, foi complicada pela reflexão sobre o que “tolerância” realmente envolve e se é sempre, de fato, um valor moral. Andrew Cohen (2004), por exemplo, argumentou que “tolerância” por definição deve envolver alguma avaliação negativa da prática ou valor que é tolerado. Assim, nesta análise, parece que só se pode tolerar o que se considera intolerável. Isso levou filósofos como Bernard Williams (1996) a questionar se a tolerância – entendida como exigindo desaprovação moral – é mesmo possível, muito menos se é verdadeiramente um valor moral em si. (Para mais discussão sobre tolerância, veja Heyd 1996.) Em uma veia relacionada, Richard Rorty (1989) argumentou que o que uma sociedade considera intolerante é moralmente constitutivo da identidade dessa sociedade, e que o reconhecimento da contingência metaética de uma a própria tolerância pode fornecer um importante senso de “solidariedade” política. Por essas razões, outros filósofos consideraram entendimentos alternativos de tolerância que podem ser mais passíveis de teorias metaéticas específicas. David B. Wong (2006: 228-272), por exemplo, desenvolveu um relato do que ele chama de acomodação, segundo a qual mesmo os relativistas ainda podem compartilhar um compromisso de ordem superior com a necessidade de diferentes práticas e valores serem organizados de forma a minimizar o atrito social e político.
9. Referências e Leituras Complementares
uma. Citações textuais
- Adams, Roberto. (1987). A Virtude da Fé e Outros Ensaios em Teologia Filosófica . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Altham, JEJ (1986) “O Legado do Emotivismo”, em Macdonald & Wright, eds. Fato, Ciência e Moral . Imprensa da Universidade de Oxford, 1986.
- Appiah, Kwame Anthony. (2008). Experiências em Ética . Imprensa da Universidade de Harvard.
- AUDI, Roberto. (1999). “Moral Knowledge and Ethical Pluralism”, in Greco e Sosa, eds. Blackwell Guide to Epistemology , 1999, cap. 6.
- Ayer, AJ (1936). Linguagem, Verdade e Lógica . Imprensa Gollancz.
- Benedito, Rute. (1934). “Antropologia e o Anormal”, Journal of General Psychology 10: 59-79.
- Beyleveld, Deryck. (1992). A Necessidade Dialética da Moralidade . Imprensa da Universidade de Chicago.
- Bhabha, Homi. (1994). A Localização da Cultura . Imprensa Routledge.
- Blackburn, Simon. (1984). Espalhando a Palavra . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Blackburn, Simon. (1993). Ensaios em quase-realismo . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Blair, Ricardo. (1995). “Uma Abordagem Cognitiva de Desenvolvimento da Moralidade: Investigando o Psicopata”, Cognição 57: 1-29.
- Bloomfield, Paulo. (2001). Realidade Moral . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Blum, Lourenço. (1991). “Percepção Moral e Particularidade”, Ética 101 (4): 701-725.
- Boas, Franz. (1911). A Mente do Homem Primitivo . Imprensa livre.
- BOISVERT, Daniel. (2008). “Assertivismo Expressivo,” Pacific Philosophical Quarterly 89 (2): 169-203.
- Boyd, Richard. (1988). “Como ser um realista moral”, em Essays on Moral Realism , ed. Geoffrey Sayre-McCord. Cornell University Press 1988, cap. 9.
- Boylan, Michael. (2004). Uma Sociedade Justa . Editora Rowman & Littlefield.
- Boylan, Michael, ed. (1999). Gewirth: Ensaios Críticos sobre Ação, Racionalidade e Comunidade . Editora Rowman & Littlefield.
- Brink, Davi. (1989). Realismo Moral e os Fundamentos da Ética . Cambridge University Press.
- Calhoun, Cheshire e Solomon, Robert, eds. O que é uma emoção? Imprensa da Universidade de Oxford.
- Chisholm, Roderick. (1981). A primeira pessoa: um ensaio sobre referência e intencionalidade . Imprensa da Universidade de Minnesota.
- Cohen, André. (2004). “O que é tolerância”, Ética 115: 68-95.
- Coppe, David. (2007). Moralidade em um mundo natural . Cambridge University Press.
- Daly, Maria. (1978). Gyn/Ecologia: A Metaética do Feminismo Radical . Imprensa do farol.
- DANÇA, Jonathan. (2006). Ética sem Princípios . Imprensa da Universidade de Oxford.
- DANCE, Jonathan. (2000). Realidade Prática . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Darwall, Stephen. (2006). “Como a ética deve se relacionar com a filosofia?” em Metaethics após Moore , eds. Terry Horgan e Mark Timmons. Oxford University Press 2006, cap.1.
- Darwall, Stephen. (1995). Os moralistas britânicos e o ‘dever’ interno . Cambridge University Press.
- DAVIDSON, Donald. (2001). Investigações sobre Verdade e Interpretação . Imprensa Clarendon.
- De Lapp, Kevin. (2009). “ Les Mains Sales Versus Le Sale Monde : Um olhar metaético sobre as mãos sujas”, Essays in Philosophy 10 (1).
- De Lapp, Kevin. (2009). “Os méritos do realismo moral disposicional”, Journal of Value Inquiry 43 (1): 1-18.
- De Lapp, Kevin. (2007). “Percepção Moral e Realismo Moral: Uma Conta ‘Intuitiva’ de Justificação Epistêmica”, Review Journal of Political Philosophy 5: 43-64.
- Derrida, Jacques. (1996). O Presente da Morte . Imprensa da Universidade de Chicago.
- Divers, John e Miller, Alexander. (1994). “Por que os expressionistas sobre valor não devem amar o minimalismo sobre a verdade”, Análise 54 (1): 12-19.
- Dreier, James. (2004). “Metaética e o problema do minimalismo rastejante”, Philosophical Perspectives 18: 23-44.
- Dóris, João. (2002). Falta de Caráter . Cambridge University Press.
- Dworkin, Ronald. (1996). “Objetividade e verdade: é melhor você acreditar”, Filosofia e Relações Públicas 25 (2): 87-139.
- Firth, Rodrigo. (1952). “Absolutismo Ético e a Teoria do Observador Ideal”, Filosofia e Pesquisa Fenomenológica 12: 317-345.
- Flanagan, Owen. (1991). Variedades de Personalidade Moral . Imprensa da Universidade de Harvard.
- Pé, Filipa. (2001). Bondade Natural . Imprensa Clarendon.
- Pé, Filipa. (1972). “Moralidade como um sistema de imperativos hipotéticos”, Philosophical Review 81 (3): 305-316.
- Foucault, Michel. (1984). O Leitor Foucault , ed. Paulo Rabino. Livros do Panteão.
- Geach, Pedro. (1960). “Ascriptivism”, Philosophical Review 69: 221-225.
- Geach, Pedro. (1965). “Afirmação”, Revisão Filosófica 74: 449-465.
- Geertz, Clifford. (1973). “Thick Description: Toward a Interpretative Theory of Culture”, in The Interpretation of Cultures: Selected Essays . Livros Básicos, 1973: 3-30.
- Gewirth, Alan. (1980). Razão e Moral . Imprensa da Universidade de Chicago.
- Gibard, Alan. (1990). Escolhas sábias, sentimentos aptos . Imprensa da Universidade de Harvard.
- Gilligan, Carol. (1982). Em uma voz diferente . Imprensa da Universidade de Harvard.
- Gordon, John-Stewart, ed. (2009 ). Moralidade e Justiça: Lendo A Sociedade Justa de Boylan. Livros Lexington.
- Gowans, Christopher, ed. (1987). Dilemas Morais . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Graham, Gordon. (1996). “Tolerância, Pluralismo e Relativismo”, em David Heyd, ed. Tolerância: Uma Virtude Elusiva . Princeton University Press, 1996: 44-59.
- Greenspan, Patrícia. (1995). Culpa Prática: Dilemas Morais, Emoções e Normas Sociais . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Haidt, Jonathan e Graham, Jesse. (2007). “Quando a moralidade se opõe à justiça: os conservadores têm intuições morais e os liberais podem não reconhecer”, Social Justice Research 20 (1): 98-116.
- Haidt, Jonathan e Joseph, Craig. (2004). “Ética Intuitiva: Como Intuições Preparadas Inatamente Geram Virtudes Culturalmente Variáveis”, Daedalus : 55-66.
- Lebre, RM (1982). Pensamento Moral . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Harman, Gilberto. (2009). “Moralidade sem culpa”, Oxford Studies in Metaethics 4: 203-214.
- Harman, Gilberto. (1977). A Natureza da Moral . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Harman, Gilberto. (1985). “Existe uma única moralidade verdadeira?” em David Copp e David Zimmerman, eds. Moralidade, Razão e Verdade . Rowman & Littlefield, 1985: 27-48.
- Harman, Gilberto. (1975). “Defender o Relativismo Moral”, Philosophical Review 85 (1): 3-22.
- Heinaman, Robert, ed. (1995). Aristóteles e o Realismo Moral . Imprensa Westview.
- Herskovits, Melville. (1952). O Homem e Suas Obras . AA Knopf.
- Heyd, David, ed. (1996). Tolerância: Uma Virtude Elusiva . Imprensa da Universidade de Princeton.
- Hooker, Brad e Little, Margaret, eds. (2000). Particularismo Moral . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Horgan, Terence e Timmons, Mark. (1991). “O realismo moral da nova onda encontra a terra gêmea moral”, Journal of Philosophical Research 16: 447-465.
- Hudson, WD (1967). Intuicionismo Ético . Imprensa de São Martinho.
- Hume, Davi. (1740). Um Tratado sobre a Natureza Humana . LA Selby-Bigge, ed. Oxford University Press, 2e (1978).
- Hurka, Thomas. (2003) “Moore in the Middle,” Ethics 113 (3): 599-628.
- Jackson, Frank e Pettit, Philip. (1995). “Funcionalismo Moral e Motivação Moral”, Philosophical Quarterly 45: 20-40.
- Tiago, Guilherme. (1896). “A Vontade de Crer”, em A Vontade de Crer e Outros Ensaios de Filosofia Popular . Editora Dover, 1956.
- Joyce, Ricardo. (2001). O Mito da Moralidade . Cambridge University Press.
- Kalderon, Mark, ed. (2005). Ficcionalismo Moral . Imprensa Clarendon.
- Kasulis, Thomas. (2002). Intimidade ou Integridade: Filosofia e Diferença Cultural . Imprensa da Universidade do Havaí.
- Kjellberg, Paul e Ivanhoe, Philip, eds. (1996). Ensaios sobre ceticismo, relativismo e ética no Zhuangzi. Imprensa SUNY.
- Knobe, Joshua e Nichols, Shuan, eds. (2008). Filosofia Experimental . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Korsgaard, Cristina. (1996). As Fontes da Normatividade . Cambridge University Press.
- KRAMER, Mateus. (2009). Realismo Moral como Doutrina Moral . Editores Wiley-Blackwell.
- LEVY, Neil. (2002). Relativismo Moral: Uma Breve Introdução . Publicações Oneworld.
- Lovibond, Sabina. (1983). Realismo e Imaginação na Ética . Imprensa da Universidade de Minnesota.
- MacIntyre, Alasdair. (1988). Justiça de quem? Qual Racionalidade? Imprensa de Notre Dame.
- MacIntyre, Alasdair. (1984). Depois da Virtude , 2e. Imprensa de Notre Dame.
- Mackie, JL (1977). Ética: inventando o certo e o errado . Livros do pinguim.
- Markus, HR e Kitayama, S. (1991). “Cultura e o Self: Implicações para Cognição, Cultura e Motivação”, Psychological Review 98: 224-253.
- McCrae, RR e John, OP (1992). “Uma introdução ao modelo de cinco fatores e suas aplicações”, Journal of Personality 60: 175-215.
- McDowell, John. (1985) “Valores e Qualidades Secundárias”, em Morality and Objectivity , ed. Ted Honderich. Routledge (1985): 110-29.
- McDowell, John. (1978). “Os requisitos morais são imperativos hipotéticos?” Anais da Sociedade Aristotélica , supp. Vol. 52: 13-29.
- McNaughton, David. (1988). Visão Moral . Editora Blackwell.
- Miller, JG e Bersoff, DM (1992). “Cultura e julgamento moral: como são resolvidos os conflitos entre justiça e relacionamentos interpessoais?” Jornal de Personalidade e Psicologia Social 62: 541-554.
- Moody-Adams, Michele. (1997). Trabalho de campo em lugares familiares . Imprensa da Universidade de Harvard.
- Moore, GE (1903). Principia Ética . Cambridge University Press.
- Murdoch, Íris. (1970). A Soberania do Bem . Routledge e Kegan Paul Press.
- NEU, Jerônimo. (2000). Uma lágrima é uma coisa intelectual . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Nichols, Shaun. (2004). “Depois da Objetividade: Um Estudo Empírico do Julgamento Moral”, Psicologia Filosófica 17: 5-28.
- Nielsen, Kai. (1997). Por que ser moral? Livros Prometeu.
- Nussbaum, Marta. (1999). Sexo e Justiça Social . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Nussbaum, Marta. (1986). A fragilidade da bondade: sorte e ética na tragédia e filosofia gregas . Cambridge University Press.
- OK, Susan Moller. (1999). O multiculturalismo é ruim para as mulheres? Imprensa da Universidade de Princeton.
- Platão. República , trad. GMA Grube, em As Obras Completas de Platão , ed. João Cooper. Hackett 1997.
- Platão. Górgias , trad. Donald Zeyl, em As Obras Completas de Platão , ed. João Cooper. Hackett 1997.
- Platts, Marcos. (1991). Realidades Morais: Um Ensaio em Psicologia Filosófica . Imprensa Routledge.
- Putnam, Hilário. (1981). Razão, Verdade e História . Cambridge University Press.
- Rachels, James. (1986). “O Desafio do Relativismo Cultural”, em Rachels, The Elements of Moral Philosophy . Casa Aleatória (1999): 20-36.
- Railton, Pedro. (1986). “Realismo Moral,” Philosophical Review 95: 163-207.
- Ramsey, Franco. (1927). “Fatos e Proposições”, Aristotelian Society Supplementary Vol. 7: 153-170.
- Rawls, João. (2001). Justiça como equidade: uma reafirmação . Imprensa Belknap.
- Rawls, João. (1971). Uma Teoria da Justiça . Imprensa Belknap.
- Regan, Tom. (1986). Profeta de Bloomsbury . Imprensa da Universidade do Templo.
- Rescher, Nicholas. (1993). Pluralismo: Contra a Demanda de Consenso . Imprensa Clarendon.
- Ridge, Michael. (2006). “Expressivismo Ecumênico: Finessing Frege”, Ética 116 (2): 302-336.
- ROTY, Ricardo. (1989). Contingência, Ironia e Solidariedade . Cambridge University Press.
- Ross, WD (1930). O Certo e o Bem . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Rottshaefer, William. (1999). “Aprendizagem Moral e Realismo Moral: Como a Psicologia Empírica ilumina questões em Ontologia Moral”, Comportamento e Filosofia 27: 19-49.
- Ryle, Gilberto. (1968). “O que Le Penseur está fazendo?” em Collected Papers 2 (1971): 480-496.
- Disse, Eduardo. (1978). Orientalismo . Livros Antigos.
- Sayre-McCord, Geoffrey. (1985). “Coherence and Models for Moral Theorizing”, Pacific Philosophical Quarterly 66:
- Scanlon, Thomas. (1995) “Medo do Relativismo”, em Virtues and Reasons , eds. Hursthouse, Lawrence, Quinn. Oxford University Press (1995): 219-245.
- Schroeder, Marcos. (2008). “Qual é o problema Frege-Geach?” Bússola de Filosofia 3 (4): 703-720.
- Schueler, GF (1988). “Modus Ponens e Realismo Moral,” Ética 98: 492-500.
- Selby-Bigge, LA, ed. (1897). Os moralistas britânicos do século XVIII . Imprensa Clarendon.
- Shafer-Landau, Russ. (2004). O que aconteceu com o bem e o mal? Imprensa da Universidade de Oxford.
- Shafer-Landau, Russ. (2003). Realismo Moral: Uma Defesa . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Smith, Miguel. (1994). O Problema Moral . Editoras Blackwell.
- Smith, Miguel. (1994). “Por que os expressionistas sobre valor devem amar o minimalismo sobre a verdade”, Análise 54 (1): 1-11.
- Spence, Eduardo. (2006). Ética na Razão: Uma Abordagem Neo-Gewirthiana . Livros Lexington.
- Steigler, Klaus. (1999). Grundlegung der normativen Ethik: Der Ansatz von Alan Gewirth . Editoras Alber.
- Stephen, Leslie. (1947). Literatura e Sociedade Inglesa no Século XVIII . Reimpresso pela University Press of the Pacific, 2003.
- Stevenson, CL (1944). Ética e Linguagem . Imprensa da Universidade de Yale.
- Stocker, Michael. (1990). Valores plurais e conflitantes . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. (1988). “Pode o Subalterno Falar?” in Marxism and the Interpretation of Culture , eds. C. Nelson e L. Grossberg. Macmillan Books, 1988: 271-313.
- Stratton-Lake, Philip, ed. (2002). Intuicionismo Ético: Reavaliações . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Esturjão, Nicolau. (1988). “Moral Explanations”, em Essays on Moral Realism , ed. Geoffrey Sayre-McCord. Cornell University Press 1988, cap. 10.
- Esturjão, Nicolau. (1986). “Harman em Explicações Morais de Fatos Naturais”, Southern Journal of Philosophy 24: 69-78.
- Suckiel, Ellen Kappy. (1982). A Filosofia Pragmática de William James . Imprensa de Notre Dame.
- Sumner, William Graham. (1906) Folkways . Editoras Gin.
- Tännsjö, Torbjörn. (1990). Realismo Moral . Editora Rowman & Littlefield.
- Timmons, Marcos. (1996). “A Contextualist Moral Epistemology”, em Sinnott-Armstrong, ed. Conhecimento Moral? Oxford University Press, 1996.
- Wiggins, David. (1976). “Verdade, Invenção e o Sentido da Vida”, em Wiggins, Necessidades, Valores, Verdade , 3e. Oxford University Press, 2002: 87-138.
- Willians, Bernardo. (1996). “Tolerância: Uma Virtude Impossível?” em David Heyd, ed. Tolerância: Uma Virtude Elusiva . Princeton University Press, 1996: 28-43.
- Willians, Bernardo. (1993). Vergonha e Necessidade . Imprensa da Universidade da Califórnia.
- Willians, Bernardo. (1985). Ética e os limites da filosofia . Imprensa da Universidade de Harvard.
- Willians, Bernardo. (1979). “Razões internas e externas”, em Ação Racional , ed. Ross Harrison. Cambridge University Press, 1979: 17-28.
- Willians, Bernardo. (1965). “Consistência Ética”, Proceedings of the Aristotelian Society , suppl. Vol. 39: 103-124.
- Wong, David B. (2006). Moralidades naturais: uma defesa do relativismo pluralista . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Wong, David B. (2000). “Harmony, Fragmentation, and Democratic Ritual”, in Civility , ed. Leroy S. Rouner. Imprensa da Universidade de Notre Dame, 2000: 200-222.
- Wong, David B. (1984). Relatividade Moral . Imprensa da Universidade da Califórnia.
- Wright, Crispin. (1992). Verdade e Objetividade . Imprensa da Universidade de Harvard.
b. Antologias e Apresentações
- Fisher, Andrew e Kirchin, Simon, eds. (2006). Discutindo sobre Metaética . Imprensa Routledge.
- Harman, Gilbert e Thomson, JJ (1996). Relativismo Moral e Objetividade Moral . Editoras Blackwell.
- MILLER, Alexandre. (2003). Uma Introdução à Metaética Contemporânea . Imprensa Policial.
- Moser, Paul e Carson, Thomas, eds. (2001). Relativismo Moral: Um Leitor . Imprensa da Universidade de Oxford.
- Sayre-McCord, Geoffrey, ed. (1988). Ensaios sobre o realismo moral . Imprensa da Universidade de Cornell.
- Shafer-Landau, Russ, ed. (2001-2010). Estudos de Oxford em Metaética, Vol. 1-5 . Imprensa da Universidade de Oxford.
Informação sobre o autor
Kevin M. DeLapp
E-mail: kevin.delapp@converse.edu
Converse College
USA

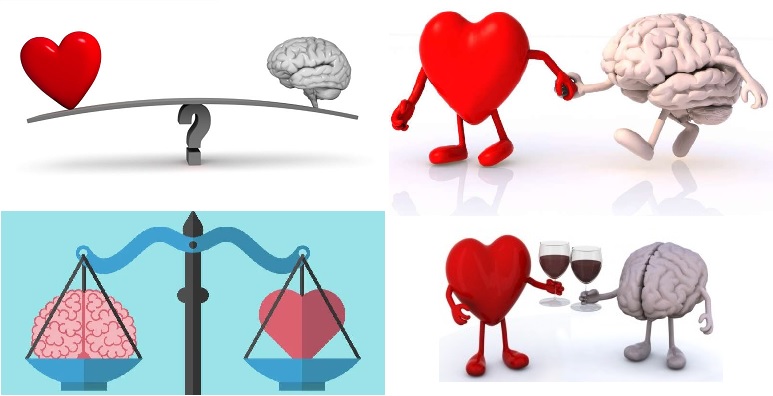
Be the first to comment on "Metaética, por Kevin M. DeLapp In: The Internet Encyclopedia of Philosophy"