REFERÊNCIA
LANGUAGE, EXISTENCE AND GOD. By Edward Cell. Nashville and New York: Abingdon Press, 1971. x+400 pp. $8.95
BOOK REVIEW por RONALD JAGER
Qualquer um que não seja um filósofo profissional e queira saber o que a tradição filosófica anglo-saxônica do século 20 tem a dizer sobre religião precisará de um guia. Este livro pode servir como esse guia. É seletivo de uma maneira que talvez seja controversa, mas raramente é arbitrária. O livro mostra uma sensação para o desenvolvimento de seu assunto. O não-filósofo paciente pode dominá-lo, argumentar com ele e aprender muito com ele. Teólogos e cientistas sociais sem tempo ou gosto por toda a lição de casa podem, de fato, obter exatamente o curso curto de que precisam. O livro não é tanto um tratado sobre os tópicos sugeridos pelo título, mas um relatório crítico sobre o que os filósofos analíticos contemporâneos (principalmente britânicos) contribuíram para a filosofia da religião. É um relatório muito bom, o melhor que conheço sobre o assunto. Foi escrito por um filósofo competente que parece ter feito sua lição de casa.
O dever de casa neste caso significa, antes de tudo, alguma apreciação do trabalho de G. E. Moore, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, os três gigantes indiscutíveis do que veio a ser conhecido como filosofia analítica.
Significa, em segundo lugar, uma educação sustentada no trabalho fragmentado de filósofos britânicos subsequentes como Ryle, Austin, Strawson, Ayer (Oxford) e Braithwaite and Wisdom (Cambridge). Significa, em terceiro lugar, um estudo dos ensaios e controvérsias individuais sobre a natureza da linguagem e do conhecimento religioso em que os participantes incluem cerca de duas dúzias de autores, principalmente britânicos. E isso significa, quarto (pelo menos no caso deste livro), uma tentativa de usar insights existencialistas (aqui, Tillich) para ganhar perspectiva e decidir que luz toda essa bela disputa lançou sobre Deus e a existência humana.
Há neste livro um certo estilo de apresentação, uma postura filosófica inicial, que muitas vezes causa certo dano ao reforçar uma impressão generalizada de que os filósofos analíticos são realmente positivistas disfarçados. Assim, a pergunta inicial de Cell é esta: “Os seres humanos podem dizer algo significativo sobre Deus?” em tom de voz para transmitir qualquer seriedade, e eles dependem de um contexto presumido e artificial de positivismo e ceticismo, respectivamente. material toma a forma de algumas vezes colocar aquelas questões solenes e vazias, onde um pouco de irreverência filosófica teria ajudado.
A mesma coisa teria aliviado outro fardo: Cell tem a tendência de enfiar no livro todos os argumentos que ele encontra em um A sombra de Wittgenstein está muito em evidência ao longo de Linguagem, Existência e Deus. Isso não é porque Wittgenstein disse ou escreveu muito sobre religião, mas por duas outras razões: a o Wittgenstein inicial resumiu a primeira fase “metafísica” da filosofia analítica, e o Wittgenstein posterior, tendo dado uma virada drástica, dominou a prática filosófica da qual surgiram essas discussões sobre a linguagem religiosa. Foi esse Wittgenstein quem, mais do que qualquer outro, criou o clima no qual o reducionismo galopante do positivismo lógico passou a ser visto e desprezado pelo que era. O tema particular de Wittgenstein que opera aqui é a preocupação filosófica de que a linguagem é muitas vezes “esticada” além do alcance de sua aplicação normal e familiar, e assim se torna inadvertidamente sem sentido. Essa foi, para Wittgenstein, a raiz de muita metafísica sem sentido. Falamos de atos de corpos e atos de mente. Corpos agem no espaço, e mentes agem no. . . que? A mente é um não-espaço privado no qual ocorrem atos mentais? Somos convidados a ver que a transferência do discurso sobre um “ato” do domínio espacial familiar para o domínio mental postulado corta os próprios pontos de referência que dão ao “ato” seu significado. A linguagem fica ociosa – como um motor desengatado. Da mesma forma, sabemos o que é para os seres humanos amar, surpreender, ligar ou fazer promessas uns aos outros; e tomamos emprestado esse vocabulário para falar de Deus amando, chamando ou prometendo seu povo. A linguagem tornou-se inadvertidamente sem sentido? – sem sentido não no sentido existencial de que as pessoas não são mais movidas por ele, mas no sentido semântico de que não tem um ponto de referência empírico, nenhum critério pronto para distinguir verdade e falsidade.
Os leitores precisam ser avisados de que Cell em nenhum lugar tenta um resumo tão rápido quanto acabei de fazer. O que acabei de dizer é impreciso e vago. Tendo admitido isso, citarei uma ilustração particularmente adequada do tipo de quebra-cabeça que surge aqui – embora seja um caso muito grosseiro para ter sido o de Wittgenstein. É o “argumento da falsificação” associado ao nome do professor Anthony Flew. É mais ou menos isso:
as afirmações religiosas são vazias precisamente porque são proferidas pelos crentes de tal maneira que “nada é permitido contar contra eles”. O crente diz “Deus nos ama” apesar de tudo: apesar das guerras, sofrimentos, morte. Por “Deus nos ama”, ele não exclui, exclui ou nega nada. Ele trata a afirmação como “infalsificável” não apenas de fato (que é seu privilégio), mas em princípio (o que é ilógico). Pois, diz-se, toda asserção genuína deve ser teoricamente falseável, deve excluir algo. (“Isto é inteiramente verde” exclui “Isto é vermelho, branco e azul.”) O que não nega nada afirma nada.
Este é o “argumento da falsificação” contra, não a verdade, mas o significado das afirmações religiosas.
Sem entrar nos detalhes desse argumento, posso usá-lo para indicar o viés particular e controverso com o qual Cell aborda muitos debates. Para ele, repetidamente, o problema se molda em termos da questão bastante específica do “significado das declarações sobre a ação de Deus”; e, em segundo lugar, em termos de sua exigência bastante indiscutível de que esse significado indica uma diferença especificável nas “expectativas” entre o crente e o cético. Do lado positivo, Cell se sai bem com esse viés – pelo menos ele responde (para sua própria satisfação) à questão do significado daquelas declarações religiosas que apelam para a atividade de Deus e as expectativas do crente. Mas, negativamente, acho que esse viés lhe serve muito menos. Isso o torna muito crítico, muito superficial e antipático, em relação aos esforços daqueles – provavelmente a maioria dos filósofos analíticos da religião – que não tomam o tipo de discurso “Deus age” como necessariamente paradigmático para o gênero. O ponto é apenas que a própria visão de Cell é mais controversa do que ele pretende: “A possibilidade de declarações significativas sobre Deus deve inevitavelmente ter como ponto focal o significado da convicção do crente de que Deus age na história, pois é essa crença que é mais importante. distintivo do modo cristão de conceber as coisas”. Talvez. Mas o autor cita filósofos ao contrário – que dizem que a linguagem religiosa é principalmente “evocativa”, “expressiva”, “atitudinal” ou indicativa de ações ou valores humanos projetivos – sem respondê-las. Há uma questão geral aqui, e os leitores devem saber que a tese de que a linguagem religiosa se resume essencialmente a “Deus agindo e o homem esperando” é parte da controvérsia, não uma pressuposição neutra. Em alguma data futura, pode ser possível que alguém escreva algo valioso sobre a interessante circunstância (não discutida por Cell) de que um grande número de filósofos para os quais o último Wittgenstein teve uma influência decisiva eram ou se tornaram crentes cristãos. O próprio Wittgenstein não era de forma alguma um homem de fé. Mas pertencia à sua visão filosófica, e não apenas pessoal, que ele não considerasse a crença cristã como uma aberração intelectual ou uma espécie de superstição – como certamente considerava a maioria das crenças metafísicas. Os universais de Platão, a substância de Spinoza, os a priori de Kant, os particulares de Russell — tudo isso ele rejeitou; mas o Deus de Pascal e a fé de Kierkegaard ele era capaz de encarar com simpatia, embora não com aquiescência. Ora, não foi Wittgenstein, mas seu discípulo e sucessor mais original e talentoso em Cambridge, John Wisdom, que realmente explorou a lógica do discurso religioso. A sabedoria elaborou à sua maneira singularmente poética o tema caracteristicamente wittgensteiniano (e antipositivista): a imensa variedade de diferentes formas de enunciado, entre os quais o enunciado religioso. Dito dessa forma, é uma banalidade, é claro, mas não há nada de banal na maneira como a Sabedoria iluminou o status lógico, a conexão com a evidência e a experiência, das declarações religiosas. Embora Sabedoria não seja, eu acho, um crente cristão, você dificilmente detectaria isso em seus escritos. Cell faz um trabalho especialmente bom ao delinear as visões sutis e complexas de Wisdom – a melhor parte do livro na minha opinião, e algo que vale muito a pena ter. Eu simplesmente desejo elogiar e recomendar esta parte do livro com apenas uma breve indicação de seu assunto. É o aspecto paradoxal do enunciado religioso e metafísico – e as razões que o incitam – que fascina a Sabedoria; e é sua habilidade em encontrar iluminação em declarações onde céticos hostis encontraram apenas escuridão, que fascina seus expositores. Na verdade, Cell o faz parecer, de forma convincente, um existencialista incipiente. Isso serve como uma transição para a última parte do livro em que Cell combina Wittgenstein e Tillich para elaborar suas próprias visões positivas. Isso não é tão espetacular quanto pode parecer, mas é mais convincente do que se poderia esperar. Para colocá-lo de forma muito grosseira: Cell usa Tillich para iluminar a característica “Deus age” da linguagem religiosa e Sabedoria para iluminar a característica “o homem espera”.
É a articulação da sabedoria entre a racionalidade e o insight (não apenas a emoção) que pode ser expressa nas declarações religiosas mais obscuras (“Deus está comigo”, “Deus estava em Cristo”, “Deus me perdoou”) que Cell corretamente fixa sobre. Ele une isso a Tillich de uma maneira que se esforça para manter a fé no quadro bíblico e ainda evitar as dificuldades de um Deus transcendente demais para ser identificável como ativo na vida humana. Cell explora apenas um lado estreito do pensamento complexo de Tillich. Mas desse lado ele lida bem; e resume assim:
Se Deus é retratado como estando além do que experimentamos, mas manifestando ou dando evidência de si mesmo no que experimentamos, parece não haver maneira de saber do que a evidência é evidência. As razões para esta conclusão foram dadas nos capítulos anteriores. Tillich, no entanto, quis dizer com “Deus” algo de que o crente está imediatamente ciente. O discurso religioso está entrelaçado com aquela forma de vida para a qual essa consciência é central e não pode ser compreendida à parte dela. Falar sobre Deus, então, pressupõe que a experiência ou consciência religiosa é distinguível da moral, estética e de todos os tipos de experiência e não é redutível a nenhuma delas. Esse tipo de consciência encontra sua descrição fenomenológica clássica, acreditava Tillich, na Ideia do Holv de Rudolf Otto. Ao retratar Deus como a profundidade de tudo o que existe, Tillich estava dizendo que podemos tomar consciência do sagrado em nosso encontro com qualquer uma dessas coisas (p. 344).
O que os não-filósofos podem fazer da filosofia analítica da religião? Os barthianos que se apegaram a isso correm o risco de irracionalismo; os heideggerianos que se apegaram a ele correram o risco da obscuridade (não considerado um risco na Alemanha); os Tillichians, penso eu, correrão o risco de um naturalismo piedoso. (E talvez o tema “Deus agindo” seja o antídoto intelectual mais forte para isso. Cell, no entanto, não discute esse ponto.)
Mas esses são riscos que valem a pena correr. E administrá-los é pelo menos evitar outro, o do paroquialismo excessivo. Apesar de toda a universalidade das questões centrais, os parâmetros dessas discussões foram, e ainda são, muito estreitos. Hume está em segundo plano e nossos autores fizeram referências a Kant. Mas a tradição recente da qual estou falando, e sobre a qual Cell tão habilmente relata, não foi totalmente influenciada por, para citar apenas dois de seus predecessores imediatos – F. R. Tennant em Cambridge e William James na outra Cambridge. Os filósofos de que estamos falando não os leram. Aliás, eles também não liam muito Agostinho, Calvino e Tomás de Aquino; nem, aliás, Barth, Brunner ou Tillich. Cell afirma que aqueles que aprenderam com Wittgenstein e Sabedoria também podem aprender com Tillich. É um ponto bem colocado.
RONALD JAGER
Yale University
New Haven, Connecticut

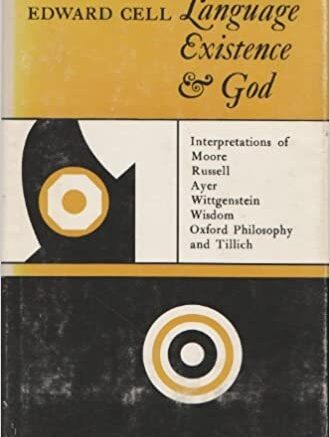
Be the first to comment on "Ronald Jager’s Book Review: CELL. Edward. LANGUAGE, EXISTENCE AND GOD."